|
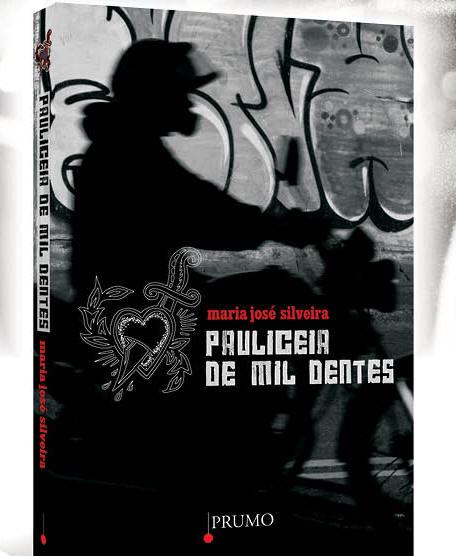 Ao publicar um romance Ao publicar um romance
Publicar um romance é dar ao texto que se escreveu a chance de
encontrar seu leitor para que, então, ele comece a viver. Só quando a imaginação
do leitor encontra a imaginação do escritor o livro respira. É nesse
encontro que um livro verdadeiramente acontece e, sem isso, ele é apenas um
conjunto de folhas de papel com manchas pretas.
A grande questão, no entanto, é que o leitor só pode se
interessar se, primeiro, souber que o romance existe. Esse é um dos dramas em
que nós, escritores, nos vemos mergulhados: a divulgação de nosso livro. Não
somos publicitários, nem marqueteiros, nem vendedores, nem showoman ou
showman. Nosso trabalho não é esse. Mas, lamentavelmente, não há
escapatória. Nunca houve. Se você quer dançar, é obrigada a colocar a música pra
tocar.
Sempre penso nisso ao publicar
meus livros e, portanto, é o que penso agora, quando acabo de lançar meu sexto
romance, “Pauliceia de Mil Dentes”, e completo dez anos na estrada da
literatura.
Desta vez, meu romance é sobre São Paulo, a cidade que amo de
um amor que resiste a todos os descalabros que ela vem sofrendo. Com a
diversidade e a enorme vitalidade e energia de seus mais de 11 milhões de
habitantes, ela é a megalópole tão rica e desigual quanto o país que a fez. São
Paulo é o que fizeram com ela: a cara e síntese das riquezas e mazelas do país.
Seu espelho. Tem de tudo aqui: o bom, o ótimo; o péssimo, o ruim; o medíocre.
Ítalo Moriconi, crítico
literário e professor, diz na orelha do livro que meu livro constrói “uma São
Paulo caleidoscópica, estroboscópica, rizomática, nervosamente arlequinal”.
O romance se estrutura em torno de uma invasão a um
famoso escritório de advocacia por um jovem de família tradicional paulista, que
faz duas reféns: a ex-namorada que o rejeitou, e a faxineira da firma.
A partir desse fulcro – do que
acontece antes, durante e depois – os principais personagens que se
interconectam são:
Um estilista muito bem-sucedido, com
uma concepção inovadora da moda e sua indústria.
Sua esposa, que trabalha na firma de
advocacia invadida. Ela é advogada de uma cantora transexual que, feita sua
mudança de sexo, deseja mudar sua carteira de identidade.
O motorista de uma van escolar, irmão
da cantora transexual, é namorado da dona de um salão da Mooca cuja filha - que
é a jovem refém no escritório de advocacia - namora o motoboy do mesmo
escritório, rebelde e apaixonado.
A mãe do motoboy é guardadora de
carros e vendedora de uma banca de lanches na região da Paulista. Moram na
periferia e são vizinhos da faxineira do escritório de advocacia, que tem duas
irmãs – uma vendedora de perfumes, a outra desempregada.
Uma dessas irmãs funda a Igreja da
Permissão Divina, com um pastor que já foi ladrão e preso.
O pai do jovem invasor é industrial,
sua mãe socialite, e sua tia uma arquiteta frustrada que se esforça por achar um
caminho. O jovem é também amigo de um diretor de teatro, filho do amante de sua
avó viúva e multimilionária.
“Pauliceia de mil dentes” é construído
com vários tipos de linguagem e vozes. A jovem refém, no entanto – de certa
forma a protagonista do livro – é a única que não tem voz. Sua personalidade é
criada através dos olhares dos outros envolvidos em sua história.
Os capítulos são intercalados por
cenas com personagens secundários que se conectam aos principais e mostram
diferentes tipos de vida e dramas que se encontram e se afastam nas pulsões e
movimentos da megalópole.
“Pauliceia de mil dentes” já está nas
boas livrarias da cidade.
Fosse lá o que fosse
Kandinskij,1936
 As duas caminham sossegadas chupando sorvete. Vão
de shorts, alegrinhas, conversando. As duas caminham sossegadas chupando sorvete. Vão
de shorts, alegrinhas, conversando.
- A única coisa que o Vinícius não queria, ela-
As pernas da que falava são brancas e grossas; as
da que escuta, morenas finas de manequim, e ela vai passando a língua pelo
sorvete que, no calor da tarde de sábado, ameaça escorrer pela casquinha. Então,
ergue os olhos, sorrindo de curtição e malícia:
- Deu?
As duas se entreolham e quáquaquá! quáquáquá!
quaquáquá!
Os sorvetes não caem com as risadas porque estão
bem acomodados na casquinha, ou porque ambas as mãos são peritas em segurar
firme.
- A única coisa que ele não queria-
Quáquaquá! quáquáquá!
O sorvete de uma era de chocolate, o da outra de
morango. Sem parar de rir, a branquinha lambeu o creme gelado escorrendo por sua
mão. A morena pediu:
- Pare que não aguento mais!
Já não é possível parar, no entanto. E elas
continuam, aos engasgos, uma completando a outra:
- A única-
- Coisa-
Quáquáquá! Quáquáquá!
- Que o Vinícius-
- Não queria!
Batem os pés no chão, sacolejam o corpo todo. Os
pés brancos de uma estão dentro de uma sandália vermelha fechada no calcanhar,
de salto grosso, moderninha. Os pés morenos da outra, unhas pintadas de azul, em
uma sandália preta também de salto, só que mais aberta. As unhas dos pés brancos
não estão pintadas - certamente por descuido passageiro porque sua dona é a que
se veste com mais estilo. Seu short jeans e a blusa de malha branca não custaram
nada barato, dá pra ver. O short de brim cáqui e a blusa rosada da outra
provavelmente também não, mas seus acessórios não combinam com tanto charme
quanto os da outra. Usam colares, as duas. Só a de cabelo curto está de brincos.
- A única co-co-coisa -
- Que Vi-vi-ni-
Quáquáquáquaquá!
As pernas se sacodem com os pés batendo. Uma das
mãos brancas pega no braço moreno da outra enquanto uma das mãos morenas
pressiona a própria barriga.
E os sorvetes lá, firmes. Verdadeiros
equilibristas esses dois sorvetes, há que se reconhecer.
- Não que-queria-
Quáquáquá!
O cabelo escuro da morena, preso num rabo, não
consegue se decidir pra que lado vai com tanta agitação. O cabelo também escuro
da outra se comporta melhor por ser curto e se agarrar ao crânio da dona,
enquanto ela se sacode pra frente e pra trás. As duas bolinhas pretas presas com
graça nos lóbulos das orelhas descobertas tampouco se mexem.
E então eles caem. Os dois sorvetes.
Passando pela blusa mais próxima e deixando um
rastro marrom rosado antes de se esborracharem no chão onde logo formam uma
única poça de duas cores na calçada. Um caiu com a casquinha perfeitamente
equilibrada por cima. A casquinha do outro caiu de lado.
Sem fôlego, as duas ainda dizem, murchando:
- A-
- Ú-
Uma olha desapontada para os sorvetes no chão. A
outra olha para a mancha cremosa na blusa branca que já se grudou em seu peito.
Vai ter que voltar pra casa.
E fosse lá o que fosse que não queria, o fato é
que Vinícius acabou com o passeio das duas.
(Crônica publicada pela primeira vez em “O
Popular”)
Pensando
junto com Ana
O Pensador,
Rodin
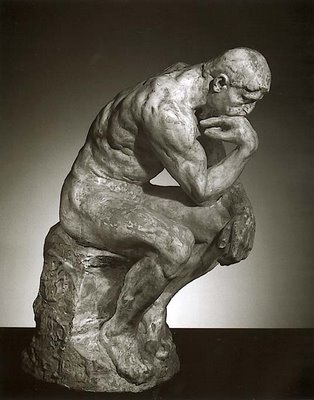 A brincadeira era fechar e abrir a porta de uma casinha de
plástico no chão. E ela fechou e abriu, fechou e abriu, fechou e abriu. Até
enjoar de tanta facilidade. A brincadeira era fechar e abrir a porta de uma casinha de
plástico no chão. E ela fechou e abriu, fechou e abriu, fechou e abriu. Até
enjoar de tanta facilidade.
“Preciso muito de uma chave”, disse, e foi correndo pegar uma
chave inexistente; voltou como se estivesse com ela na mão. Fez que dava uma
volta na fechadura mas, “Não abriu!”. Eu fiz cara de enorme surpresa, e rimos as
duas. “Vou pegar outra”, ela disse e foi correndo buscar outra chave inexistente
que trouxe de novo na mão para abrir a porta que, mais uma vez, não se abriu.
A brincadeira passou a ser essa até que foi minha vez de enjoar e
introduzir pequenas variações: “Pôxa, Ana! Assim não dá! Vê se pega a chave
certa”, e lá ia ela correndo, voltando com a errada e se divertindo com sua
desobediência. Então falei, “Se dessa vez você não voltar com a chave certa, vai
ter que ficar de castigo”, e ela, trazendo outra vez a chave errada, introduziu
sua própria variação, “Agora eu vou sentar ali pra pensar no que eu fiz”, e lá
foi se sentar no degrau da escada.
A brincadeira passou a incorporar essa variante: ela saía
correndo feliz pra pegar a chave certa, trazia a chave errada, a porta não se
abria e ela ia se sentar pra pensar no que tinha feito.
Enquanto isso, eu também pensava: o que significa uma criança de
dois anos e meio transformar em alegria o que supostamente é o pequeno e talvez
único e certamente raro “ato disciplinador” que ela conhece? Demonstrando
perfeito conhecimento sobre seu faz-de-conta, ela modificava tanto o “ato
transgressor” - a “desobediência” de buscar a chave certa – quanto a possível
consequência disso – ter que “pensar sobre o que tinha feito”.
É curioso como desde tão cedo a criança é capaz de imitar e
manipular a lógica do castigo de nossos tempos modernos. Para isso, seus
pequenos neurônios devem ter recorrido ao entendimento das histórias que escuta
(na versão menos cruel da nossa época), e como elas tratam a transgressão e suas
consequências: desde a desobediência de Chapeuzinho Vermelho que acaba ilesa em
companhia da vovó tirada viva da barriga do lobo; ou dos Três Porquinhos que
escapam na casa de tijolos do Porquinho mais sábio; ou da maioria das histórias
da educação contemporânea com seus finais felizes.
Quer dizer: há a transgressão, há a tensão e o “medo” da
consequência, mas no último minuto todos somos “salvos”. Resta-nos “pensar sobre
o que fizemos”, isto é, compreender nosso ato. Quando compreendemos e não o
repetimos, maravilha. E se não o “compreendemos”? A sociedade contemporânea
pretende se basear nessa nossa racionalidade, nossa capacidade de compreensão.
Não à toa estamos sempre à beira do abismo.
Mas ainda bem que estamos. Tanto porque há certa beleza nisso
quanto porque o contrário é que seria deveras assustador.
Uma comunidade que preferisse não pensar e agir pela força e medo
do castigo seria, sem dúvida, um lugar insuportavelmente terrível onde viver.
(Crônica publicada por primeira vez no jornal “O Popular”)
.jpg) .png) A
frenética reprodução dos livros A
frenética reprodução dos livros
Os livros eletrônicos estão batendo a nossa
porta. Você pode não querer abrir, mas escute o que lhe digo: eles não vão
desistir e, mais cedo do que pensa, você vai se pegar lendo um. É uma revolução
que, sinto muito, nem você nem eu podemos deter.
E eu nem quero. Não tenho nenhum preconceito
contra eles, pelo contrário. O aparelho leitor é leve, fácil de levar pra todo
canto, comporta uma biblioteca inteira, e tem vantagens específicas como a de
aumentar a letra, e ser mais barato. O preço do aparelho é rapidamente pago com
a economia que se faz com a diferença de preços entre os dois tipos de livro.
Reconhecer isso não me faz pensar que os livros
de papel vão desaparecer. Do que vejo por aí, concluo que ficarão reservados a
nichos especiais. Que nichos especiais serão esses, talvez dependam de cada
leitor. Para mim, por exemplo, acho que esses nichos serão mais afetivos do que
qualquer outra coisa. De fato, é o que já vem acontecendo em casa desde que
começamos a tentar diminuir nossa biblioteca.
É que livros dão crias. Um puxa o outro e, na
casa de um leitor inveterado, vão entrando e ficando e se reproduzindo, às vezes
freneticamente, conforme a fase de sua vida. Aí chega um momento em que você vê
livros por todos os cômodos da sua casa. Imaginem, então, a casa de
profissionais do livro, como a minha e do Felipe, meu marido: os livros se
espalham e se erguem por todo canto em pilhas sempre convidativas. Gosto imenso
delas, mas percebo que tudo tem limites.
Ano passado, então, num rompante de desapego e
extrema coragem, começamos o movimento de doá-los. Nossos livros de estudantes,
por exemplo. Tínhamos uma razoável biblioteca de antropologia e ciências
sociais: oferecemos para o Museu Nacional onde estudamos. Os livros de
filosofia, arte, cinema, literatura passaram para estantes de bibliotecas
públicas. Tentamos bravamente ficar apenas com os livros aos quais, por um
motivo ou outro, estamos ligados.
O efeito visual, na verdade, foi quase nulo, já
que os livros evidentemente continuam achando a porta de nossa casa. A diferença
é que, agora, existe também uma porta de saída. Mas é preciso calma; o
desprendimento nunca foi coisa fácil. Felipe, sempre mais radical do que eu,
coloca um exemplar na caixa e eu vou lá e retiro. Só não dá briga porque essa
foi a condição sine qua non de todo o processo: nenhum dos dois
questionaria a escolha idiossincrática do outro. E se resmungos irreprimíveis
acompanham minhas mãos, finjo que não escuto.
Nesse processo, o kindle e o ipad têm sido muito
úteis. Parece que estamos transferindo os livros doados para o aparelhinho
simpático que pesa menos do que um único exemplar.
E eis que os livros que escrevo também
começaram a entrar na dança. A primeira versão eletrônica de um livro meu, “O
voo da Arara Azul”, novela juvenil publicada pela Ed. Callis, em 2007, acaba de
ser disponibilizada nas livrarias virtuais como a Saraiva e a Gato Sabido cujo
link é este:
http://www.gatosabido.com.br/ebook-download/161174/maria-jose-silveira-o-voo-da-arara-azul.html.
Consequência:
tenho agora um exemplar de papel na estante, e outro eletrônico no ipad. Não
falei que eles se reproduzem como loucos?
O
que é demais
Lady Godiva, 1850, Claxton
 Os louros
cabelos cacheados descendo até a batata da perna provocavam olhares por onde
passava sua dona, jovem de uns 30 anos. Ao contrário da lendária dama inglesa,
no entanto, essa Godiva não estava nua. Estava, aliás, muito adequadamente
abrigada para o friozinho de junho, e seus cabelos é que, irresistíveis, eram
como um ímã que não poupava ninguém. Os louros
cabelos cacheados descendo até a batata da perna provocavam olhares por onde
passava sua dona, jovem de uns 30 anos. Ao contrário da lendária dama inglesa,
no entanto, essa Godiva não estava nua. Estava, aliás, muito adequadamente
abrigada para o friozinho de junho, e seus cabelos é que, irresistíveis, eram
como um ímã que não poupava ninguém.
À minha
frente, ela caminhava indiferente à cadeia de olhares que iam se pregando em
seus cachos dourados. Do meu ponto de observação, alguns metros atrás, vou lhes
dizer com franqueza: eram bonitos os tais cabelos. Exuberantes, fartos,
brilhantes e, a julgar pelo que meus olhos percebiam, da maciez de fios de lã.
Duas
meninas, uma pré-adolescente, outra mais novinha, apareceram correndo e a
fizeram parar. A maior, muito à vontade, lhe perguntou:
- Seu
cabelo é de verdade ou é peruca?
Nossa
moderna Godiva, das mais pacientes, respondeu com simpatia à pergunta que, com
certeza, já lhe haviam feito mil vezes:
- É
natural, querida.
- Você
nunca cortou?
- Não, só
aparo as pontas. Você gostou?
A maior
disse um sim entusiasmado, mas a menor, ou por timidez ou por ainda não saber ao
certo, recuou um pouquinho, muda.
- Como você
faz pra sentar? – a maior perguntou.
- Assim,
olha – e, fazendo um gesto com a mão atrás da nuca, puxou-o todo para um lado e
para frente.
- E pra
dormir?
- Ele se
acomoda naturalmente, não tem problema.
- E pra
lavar? – a maior não sossegava.
- Normal.
Às vezes, lavo no tanque. O mais importante, como em qualquer caso, é lavar bem
o couro cabeludo que é se lava do mesmo jeito, seja qual for o tamanho do
cabelo.
- Você é
cabelereira?
A mãe das
meninas, parada um pouco ao largo, onde eu também parei meio constrangida pela
curiosidade e meio fingindo que também era alguma coisa das meninas - por nada
no mundo perderia esse diálogo -, já fizera vários sinais para que as filhas
deixassem a moça seguir em paz.
- Sou
médica.
O espanto
aumentou. - E como você faz com os doentes? – voltou a perguntar a mais velha.
- Como
qualquer outro médico. Nas consultas, faço um rabo ou um coque. Nas cirurgias,
enrolo e uso uma touca, como todos que entram no centro cirúrgico.
- Eca! -
soltou menorzinha, sem se controlar.
Dessa vez,
foi nossa Godiva que se surpreendeu. Eu também. Nunca imaginei uma garotinha que
não achasse bonitos cabelos assim lendários, quase de um mundo de fadas. Eu,
quando pequena, se visse uma cabeleira dessas passando pela rua, pensaria logo
em ter uma também.
Mas
enquanto a mãe embaraçada puxava as meninas e pedia desculpas à moça pela
impertinência das filhas, achei de bom tom considerar o espontâneo eca! como
sinal para seguir adiante.
Ah,
crianças!
Muita gente
tem nojo de cabelo, sei disso, mas por sorte não é a maioria. Deve ser terrível
ter repulsa por algo que se encontra em quase todo lugar, até na própria cabeça.
Mas talvez a garotinha não tivesse nojo de todo e qualquer cabelo; talvez só
daquele tão fora dos padrões. O que me fez lembrar uma das máximas de minha mãe,
“Tudo que é demais, enjoa.”
(Crônica
publicada no jornal “O Popular”)
Até tu?
 Gosto
de ver estatísticas. Algumas trazem resultados que sacodem o senso comum no qual
estamos afundados. Gosto
de ver estatísticas. Algumas trazem resultados que sacodem o senso comum no qual
estamos afundados.
Vejam
este: o Brasil é o terceiro país com maior proporção de doutoras.
Não é
surpreendente? Na proporção de doutores em relação ao total da população, ainda
estamos atrás de alguns países, mas na tendência de ter mais mulheres que homens
conquistando o título, estamos na vanguarda.
Doutoras eram pouquíssimas na minha infância, e eram médicas. A primeira que
conheci foi Dra. Idalina, amiga da minha mãe. Trabalhava com o marido, Dr.
Campos, também médico, no sanatório de tuberculosos de Goiânia. A segunda, Dra.
Feiga Grunspun, psiquiatra de São Paulo, também casada com médico, Dr. Haim,
amigo do meu pai. Duas mulheres fascinantes que provocavam reboliço com a mera
presença, e com a elegância com que erguiam seus cigarros.
Acompanhando os cursos de doutorado sendo abertos, aos poucos foram aparecendo
doutoras em várias outras áreas, abrindo caminho e conseguindo conciliar
carreira, emprego e vida pessoal.
Acho de
grande impacto ver que em tão pouco tempo elas são maioria.
Luc
Ferry, filósofo francês, chamou atenção outro dia para o fato de que foi preciso
a Segunda Guerra Mundial para as mulheres conquistarem o direito a voto, e que
só em 1991 – 1991! – isso aconteceu no último cantão da Suíça. Exatamente,
Suíça! E ele completou o raciocínio nos lembrando que o mundo ocidental – como
estamos não apenas vendo mas vivendo - mudou mais nos últimos 50 anos do
século 20 que nos 500 anos anteriores!
Mulheres com doutorado é uma dessas mudanças. E sua rapidez talvez explique a
sobrevivência de alguns trogloditas que ainda teimam em dar as caras, como
aquele sujeito que semanas atrás se recusou a voar em um avião cujo comandante
era mulher.
Fico
daqui imaginando o pior pesadelo de um cara desses.
Começar
o dia na casa administrada por uma mulher, ler no jornal uma colunista
comentando as decisões da Presidenta, deixar a filha na escola nas mãos de uma
professora, parar no trânsito ao sinal de uma policial, entrar no elevador
manobrado por uma ascensorista, participar de uma reunião onde a chefa é doutora
em agronomia, sair para almoçar no restaurante de uma “chéfe” em gastronomia,
passar para ver a construção de sua nova casa a cargo de doutoras em engenharia
e arquitetura, depois, de volta à firma, ouvir o parecer de uma doutora em
advocacia e, ao se sentir mal, ser levado ao pronto-socorro por uma colega
mulher, sendo atendido – sem poder dizer ui!– por uma médica e cercado na maca
por enfermeiras, onde então seu coração masculino, não resistindo a tantos
eflúvios profissionais femininos, sofre uma pane e para de bater. Ele é, então,
arrumado no caixão pela mesma mulher que dirige o carro da funerária até o
cemitério onde, ao intuir que a primeira pá de terra será também jogada por uma
mulher – a sua –, não suporta mais, se levanta e diz, “Até tu, Bruna!”... e
morre outra vez.
A escolha de Eudora
Ela é professora
de Literatura Brasileira na Espanha, para onde foi com o marido e as duas filhas
pequenas, pouco depois de formada. Ali construiu sua vida e se tomou de amores
pelo país. Hoje é reconhecida na profissão, requisitada, e tem um círculo de
amigos queridos com quem convive há anos. Desde que o marido faleceu, poucos
anos atrás, e as filhas se casaram e voltaram para o Brasil, ela optou por
continuar, embora só, em seu país de adoção.
E então, chegando aos 70
anos, descobre que está com um câncer.
Vem se tratar no Brasil,
perto das filhas. O tratamento tem sucesso e o médico a libera para retomar sua
vida normal. Terá que tomar certos cuidados e fazer exames periódicos, mas a
porta se reabre a sua frente. Poderá voltar ao trabalho, à Espanha, à sua vida
de antes.
Só que as filhas, os
netos, os parentes e amigos daqui são taxativos: nada de sair do Brasil; sua
vida agora é aqui conosco.
Ela sabe, é claro, que
aqui terá, além do afeto e convivência com as pessoas que mais ama,
tranquilidade e conforto. Mas sabe também que se ficar aqui será apenas mãe e
avó. Perderá seu trabalho, sua identidade profissional, sua independência.
Deixará para trás a vida que construiu para si mesma, com as solicitações e
atividades que a mantem ativa num mundo que, a duras penas, aprendeu a
reconhecer que a mulher mais velha continua sendo uma pessoa com todo direito a
suas escolhas, e consequências.
Como é muito fácil, no
entanto, decidir sobre a vida dos outros e como todos, evidentemente, desejam de
coração o melhor para ela, os amigos se dividem, ou falando sem rodeios a sua
frente ou, com receios de ofendê-la, por trás. De um lado os que, como as
filhas, acham incompreensível, leviandade imperdoável, que ela volte a morar
sozinha onde sempre morou; de outro, os que não titubeiam em afirmar que o
absurdo seria abdicar da vida que construiu para si mesma, e que ainda deseja e
se sente com forças para prosseguir.
Assim, de um momento para
o outro, sua vida familiar se tornou um cotidiano de pressões, acusações e
desgaste emocional.
A filha caçula, a mais
amorosa, está imbuída de tal fervor autoritário que planeja conseguir algum tipo
de proibição, nem que tenha que passar pela vergonha de tentar subornar o
médico. A mais velha, junto com as tias, arquiteta uma avalanche de chantagens
sentimentais que a fragilizam e entontecem.
E Eudora, que se sentiu
tão forte, tão livre e feliz quando o médico lhe falou que estava curada, está
agora sentada ali, mãos na cabeça, olhos fechados, testa tensionada, procurando
se preparar, como em seus tempos de criança e adolescente, para a tempestade
que, de um jeito ou de outro, se abaterá sobre sua escolha.
...
(Publicado pela
primeira vez em “O Popular”, de Goiânia)
A foto da praça
Para Silvana
É
uma foto antiga e, no amarelado do tempo, vê-se o largo; ao fundo, a igreja.
Nada disso
existe mais.
Mesmo a
igreja, que é a matriz da cidade, e que, sim, está de pé, hoje é outra.
Ampliaram sua nave e cresceram suas torres. Perdeu a graça de igreja humilde e
antiga; ganhou um arremedo de grandiosidade.
Nem a praça
é a mesma porque preencheram seus espaços com calçamento, asfalto, quiosques.
E aquelas
pessoas que passam pelo largo da matriz já não existem mais.
Acabou.
Tudo o que está na foto acabou.
E, no
entanto, é a foto de algo que existiu.
Aquelas
pessoas existiram.
Distingo
daqui a batina negra do padre na porta da igreja e, a seu lado, mais abaixo, o
vulto esguio da mulher bonita, conhecida por todos como a mulher do padre. Vejo
um grupo de senhores de terno e, mais atrás, um grupo de senhoras endomingadas.
Moças se agrupam de um lado, rapazes de outro. As crianças parecem muito leves,
mesmo fixas como estão.
Sei que era
um domingo.
Bem na
frente à direita, perto dos olhos de quem vê a foto – os meus, agora –, quem eu
vejo é ele. Reconheço-o pelo terno branco. Impossível ver seu rosto inclinado.
À esquerda,
reconheço também a moça, pelo jeito empertigado e pelo vestido; ela tem outra
foto com o mesmo vestido escuro, provavelmente preto. A outra, onde está apenas
ela – cabelos em coque, olhos de melancolia – e imagino que também essa foram
registros do mesmo fotógrafo. Fotógrafos não eram de dar com a mão naquele
tempo; na cidade, talvez, nem existisse um fotógrafo. Talvez ele tenha ido ali
chamado para fotografar as senhoras, os senhores e as paisagens, tudo que sua
Rolleiflex pudesse abarcar no mesmo dia.
O que sei é
que era domingo.
E sei
também que o nome da moça – teimo em dizer moça porque era muito jovem embora já
fosse viúva com três filhos – era Serafina.
O nome dele
nunca se soube. Todos se referiam a ele como O Homem do Terno Branco. Ainda que
tenha ficado para sempre registrado nessa foto domingueira, ninguém nunca soube
quem ele era, nem seu nome.
Sabe-se que
foi nesse mesmo dia que ele chegou à cidade de manhãzinha, não se sabe de onde,
e já estava no fundo da igreja na hora da missa. Muitos disseram que veio a pé –
o que parece improvável dada à brancura do terno impecável; outros disseram que
num Fordinho – mas não prestaram atenção à placa; outros, ainda, disseram que
quando viram, lá estava ele, no canto da praça se dirigindo ao outro canto. E
que assim que chegou frente à viúva, olhou-a fixamente e fez o disparo à
queima-roupa.
Esse o
momento que ficou registrado na foto: o Homem do Terno Branco indo em direção à
Serafina.
Serafina,
minha avó.
A cidade
nunca soube por que ele a matou. Por engano, dizem. Não, dizem outros, pois ele
viu seu rosto de frente.
O mistério
até hoje permanece.
Penso um
dia, talvez, ter condições de investigar o que puder ser investigado.
Mas não
hoje.
Hoje apenas
olho a foto e a vejo caminhando distraída para sua morte.
(Publicado pela primeira vez em “O Popular”)
Portinari e uma corrente familiar de fãs
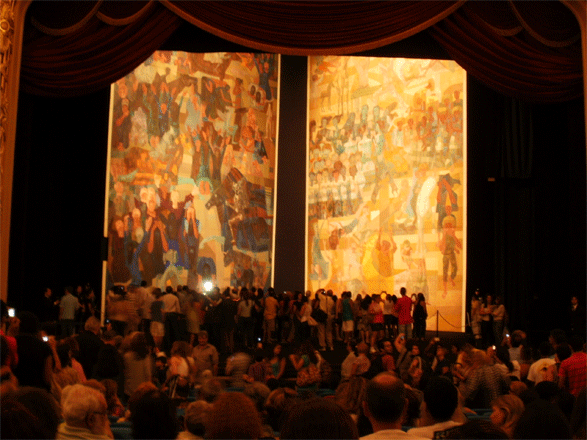 “Guerra
e Paz”, de Portinari, está viajando pelo Brasil. “Guerra
e Paz”, de Portinari, está viajando pelo Brasil.
Doada pelo governo brasileiro à ONU, em 57, essa
obra-prima agora está de volta ao país para ser apresentada em várias capitais,
aproveitando a reforma do salão onde está alojada em Nova York. A mostra foi
prorrogada por mais um mês em São Paulo, e tomara que passe também por sua
cidade.
São dois enormes painéis: um sobre a guerra, o
outro sobre a paz, nos quais Portinari trabalhou por quatro anos. Na exposição –
aliás, muito bem montada -, os painéis são acompanhados por um pequeno filme e
cerca de uma centena de estudos, alguns praticamente quadros prontos. Esse, que
é um dos nossos maiores artistas, paulista do interior, começou a pintar desde
jovem e dedicou sua pintura as grandes temas sociais. Morreu intoxicado pelo
chumbo das tintas que usava.
Portinari foi o primeiro pintor do qual eu soube
o nome.
Havia duas reproduções de suas gravuras na sala
de jantar de minha avó, em Jaraguá. Ficavam penduradas na parede branca atrás da
grande mesa das refeições das férias, e eu as via no almoço e no jantar: uma, a
reprodução de seu célebre quadro dos colhedores de café, e a outra, do mestiço.
Eram figuras fortes, robustas, em cores que me pareciam tender mais para o
escuro. Guardei-as na lembrança, embora a casa hoje não exista mais e muito
menos, suponho, essas reproduções emolduradas da maneira mais simples possível
por um fio de madeira escura, e que nunca soube de onde vieram, provavelmente de
alguma viagem dos meus avós a São Paulo.
Também ainda menina, quando meu pai levou a
família pela primeira vez a Belo Horizonte, um dos nossos passeios foi conhecer
a igreja azul da Pampulha, e outras obras de Portinari pela cidade. Meus avós e
também meu pai, pelo visto, eram fãs do pintor. E não tardei a me tornar também
outra fã: seus trabalhadores, cafezais, retirantes, suas crianças, sua visão
colorida do nosso país fizeram desse pintor genial um dos meus preferidos.
Agora vejo com gosto que a corrente de admiração
por Portinari continua na família, e minha filha também é fã: foi ela que,
passando uns dias conosco em São Paulo, nos chamou para ver a exposição e nos
salvou do sério risco causada por uma estranha inércia que às vezes se abate
sobre uma metrópole, criando a ilusão em seus moradores de que suas maravilhosas
atrações ficarão ad aeternum à espera (já perdemos coisas imperdíveis
atacada por essa síndrome). A exposição em São Paulo está nos seus últimos dias
– e não havíamos percebido isso. Felizmente, desta vez, evitamos o crime de
perder a oportunidade de ver esses emocionantes painéis. E pude ler no folheto
da exposição, essa declaração de um gênio brasileiro:
“... uma pintura que não fala ao coração não é
arte, porque só ele a entende. Só o coração nos poderá tornar melhores e é essa
a grande função da Arte. Não conheço nenhuma grande Arte que não esteja
intimamente ligada ao povo.”
....
De aniversários

Eis uma coisa pela qual todo mundo
passa. E em todos os anos de sua vida: do primeiro ao último.
Este mês tive que passar pelo meu.
Aproveitei, então, para tomar algumas resoluções de minúscula sabedoria e, antes
que o mês acabe, compartilho-as com vocês.
1. Baixar minhas expectativas. O
que, a essa altura da vida, parece ser a decisão mais sábia que posso tomar: o
que me acontecer de bom já está ótimo.
2. Tentar de verdade curtir o dia
e assumir que tudo o que acontece, se não for ruim, é bom. Ou, explicando
melhor essa verdade aparentemente acaciana: tirar os tons neutros da minha vida.
O que não for ruim, mais do que simplesmente médio ou não-ruim, é bom, talvez
muito bom e, com algum pequeno esforço, quem sabe ótimo.
3. Abolir as coisas chatas da vida
– o que tenho paulatinamente feito com razoável sucesso. Mas sendo impossível
aboli-las todas, não me permitir pensar nem uma vez a mais no que, por questões
da ordem do dia, vou ser mesmo obrigada a fazer – tipo ir à academia, ir ao
médico ou dentista, tratar de burocracias. Dedicar pensamentos supérfluos a
obrigações inevitáveis, tentando achar desculpas para evitá-las, só faz
prolongar a chatice do que terá que ser feito.
4. Assim que terminar de fazer
qualquer dessas obrigações indeclináveis, dar um suspiro de alívio e me
congratular comigo mesma.
5. Começar um tipo de exercício
meio terapêutico que outro dia vi em um livro e achei interessante. Quando tiver
tempo (e vontade), começar uma frase com “Eu me lembro...” e continuar para ver
no que dá. Na minha idade, parece bem mais apropriado do que um simples diário
que já comecei vezes sem conta e nunca tive disposição para continuar. Aliás,
abolir qualquer tipo de iniciativa que, a essa altura, já deveria saber que não
terá, se até hoje não teve, a menor condição de seguir em frente.
6. Comemorar meus aniversários. Eu
tinha a mania tola de querer escapar de uma coisa que não tem escapatória, mas
finalmente compreendi que fugir não adianta já que o aniversário foge atrás da
gente. O dia em que nasci foi o dia em que comecei minha pequena história que,
como qualquer outra história de vida, tem seus altos e seus baixos. Suponho que
nunca chegarei ao ponto de querer apagar velinhas de bolos, mas pretendo – a
menos que eu mude de ideia outra vez – procurar me alegrar no dia.
E confesso que dessa vez consegui.
Passei a noite com amigos queridos e ganhei – ô coisa boa! - os presentes da
data.
Só espero que ano que vem tenha
mais.
Um
elogio à segunda-feira
Lápide na Igreja
de S.Vicente, em Braga,visigótica,
618dc,
talvez a 1a.referência à 2a.feira.

A
segunda-feira tem sido caluniada por muita gente, mas não por mim que a
considero se não o melhor, pelo menos um dos melhores dias da semana. Reconheço
suas inúmeras vantagens.
A primeira delas é deixar pra trás o domingo. Vamos combinar: terminado o
almoço, o dia mais chato da semana é o domingo. Domingo, aliás, é o tipo do dia
que deveria acabar mais cedo, no momento em que as pessoas se levantam da mesa e
vão tirar a sesta. Esse seria o momento certo pra anoitecer, pois a partir daí,
quanto mais rápido a manhã do dia seguinte chega, melhor.
Outra vantagem de uma bela segunda-feira é a novidade da porta da semana que se
abre. É seu começo, e os começos em geral são bons. Costumam ser a melhor parte
de muita coisa, agitando o caldeirão de suas possibilidades.
|
Idioma |
Nome |
Significado |
|
Espanhol |
Lunes |
Lua |
|
Galego |
Luns |
|
Romeno |
Luni |
|
Catalão |
Dilluns |
Dia da Lua |
|
Alemão |
Montag |
|
Holandês |
Maandag |
|
Inglês |
Monday |
|
Dinamarquês |
Mandag |
|
Dousha |
Yuuna |
|
Esperanto |
Lundo |
|
Latim clássico |
Dies lunae |
|
Norueguês |
Mandag |
|
Sueco |
Måndag |
|
Francês |
Lundi |
|
Italiano |
Lunedì |
|
Japonês |
月曜日 (Getsuyôbi) |
|
Chinês |
星期一 (xīng qī yī) |
Um da semana |
|
Basco |
Astelehen |
Primeiro da semana |
|
Grego moderno |
Δευτέρα |
Segunda [da semana] |
|
Persa |
دوشنبه dochanbe |
Segundo dia [da semana |
A terceira grande vantagem é ser um dia em que é compreensível ter preguiça.
Ninguém condena a preguiça da segunda. Todos entendem que seu humor terá a
semana toda para melhorar. Além disso, a legitimidade da preguiça deve ser um
direito da humanidade, como bem explicou Paul Lafargue, o adorável
revolucionário francês genro de Marx, em seu pequeno livro “O direito à
preguiça”: se o capitalismo transformou o trabalho em uma força massacrante que
só enriquece o comprador de sua mão de obra, você tem todo o direito de lutar
por uma vida menos trabalhosa. E lembra que até “Cristo pregou a preguiça no
seu sermão na montanha: ”Contemplai o crescimento dos lírios dos campos, eles
não trabalham nem fiam e, todavia, digo-vos, Salomão, em toda a sua glória, não
se vestiu com maior brilho.”
O amanhecer de uma segunda-feira é um dos momentos mais propícios para a
compreensão da mais saudável das rebeldias, a de reconhecer que os homens não
nasceram para burros de carga; nasceram, sobretudo, para apreciar a vida e
trabalhar no que enriquece sua humanidade. Se for mesmo preciso trabalhar, que
seja durante quatro, cinco horas para que o resto do dia possa ser usado em
prazerosas atividades de estudo, de lazer, de contemplação da natureza e da arte
- ou do que lhe der na telha. A ida para o trabalho na segunda é um bom momento
para refletir sobre essas coisas muito pertinentes.
Quanto àquela pequena e feliz parte da humanidade que verdadeiramente ama o que
faz, essa já tem o privilégio de viver em uma eterna segunda-feira. Fazer o que
a pessoa gosta é a melhor receita para uma boa vida. Estaria no topo das
qualidades de uma sociedade justa: menos horas de trabalho por dia e
oportunidades para todos poderem escolher trabalhar no que gostam.
E que o trabalho chato necessário para o mundo girar fique por conta das
máquinas – para quem todos os dias da semana são exatamente iguais.
(Crônica
publicada no jornal “O Popular”, de Goiânia.)
A TORRE DAS DONZELAS
foto: a Torre
das Donzelas, ao centro do
extinto Presídio
Tiradentes.
 Quem acompanha o noticiário político, já ouviu falar da “Torre das Donzelas”, o
apelido da cela no Presídio Tiradentes, em São Paulo, onde as presas políticas
ficaram instaladas, nos anos 70. Entre elas, Dilma Roussef e Eleonora Menicucci,
a nova ministra que assumiu a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Eleonora
é socióloga e talvez uma das pessoas que mais conheça a situação das mulheres no
país. A cela onde as duas e muitas outras militantes estiveram presas, naqueles
anos, era chamada assim porque ficava em uma torre no final do pavilhão feminino
do presídio. Para chegar até lá, era preciso passar pelas celas das presas
comuns e subir uma pequena escadaria.
Quem acompanha o noticiário político, já ouviu falar da “Torre das Donzelas”, o
apelido da cela no Presídio Tiradentes, em São Paulo, onde as presas políticas
ficaram instaladas, nos anos 70. Entre elas, Dilma Roussef e Eleonora Menicucci,
a nova ministra que assumiu a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Eleonora
é socióloga e talvez uma das pessoas que mais conheça a situação das mulheres no
país. A cela onde as duas e muitas outras militantes estiveram presas, naqueles
anos, era chamada assim porque ficava em uma torre no final do pavilhão feminino
do presídio. Para chegar até lá, era preciso passar pelas celas das presas
comuns e subir uma pequena escadaria.
Esse apelido irônico e afetivo era uma
brincadeira que ajudava a diluir um pouco a crueldade da prisão. As presas
políticas - na maioria mulheres de vinte e pouco anos, que haviam sido
brutalmente torturadas -, em muitos casos, ficaram ali alguns anos. O humor é
sempre bem-vindo em tais situações adversas. E as mulheres que ficaram presas
naquela Torre naquele momento eram bem-humoradas, vitais, convictas do que
faziam e preparadas para enfrentar a prisão com plena consciência e disposição
de torná-la suportável. Foram capazes de resistir e estabelecer ali sólidos
vínculos de amizade que até hoje resistem ao tempo e as distâncias. Sou amiga de
várias delas, e sei disso.
Hoje, quando vejo a “Torre das Donzelas”
mencionada, sempre em referência a Dilma e suas companheiras, penso em como a
luta contra a ditadura foi um marco na participação das mulheres nas questões
políticas do nosso país. Talvez tenha sido a primeira vez em nossa história em
que as mulheres tiveram realmente uma participação importante, coletiva e
igualitária - e na linha de frente.
Não que tenham sido as primeiras.
A participação feminina esteve sempre presente e
as donzelas-guerreiras há séculos fazem parte de nosso imaginário. Muitas
vezes, no entanto, a participação das mulheres nas lutas e formação do nosso
país foi encoberta pela história oficial - e é o que vem sendo revelado em novas
e surpreendentes investigações históricas. Eu que o diga, pois tenho me
admirado, nas pesquisas para alguns dos romances que escrevi, com a riqueza da
participação feminina em todos os momentos de nossa história.
Aqui mesmo, em Goiás, a importância de Damiana da
Cunha é uma dessas surpresas que tentei contar no meu romance “Sangue no Coração
do Cerrado”.
Mas creio que é possível afirmar que foi na luta
contra a ditadura que a participação da mulher realmente se afirmou, dando um
salto qualitativo. Elas foram importantes, naquele momento, em todas as frentes:
nas universidades, nas fábricas, no campo.
A “Torre das Donzelas” é um belo símbolo disso.
Mais belo ainda porque as donzelas que passaram
por lá, como está se tornando público, continuaram e continuam a contribuir
tanto na política como em outras esferas para que o país seja mais igualitário e
mais justo.
O jogo de dominó
 Olhando
de longe, dá gosto vê-los. Parecem, eu não diria contentes mas tranquilos,
desfrutando de um jeito prazeroso a manhã de sol. Acordaram cedo, tomaram seu
café, assistiram o jornal matutino da tevê, fumaram um dos cinco cigarros do
dia, e agora estão lá, na sombra das árvores da pracinha, sentados nos
banquinhos de cimentos frente à mesinha, preparando as peças do dominó. Olhando
de longe, dá gosto vê-los. Parecem, eu não diria contentes mas tranquilos,
desfrutando de um jeito prazeroso a manhã de sol. Acordaram cedo, tomaram seu
café, assistiram o jornal matutino da tevê, fumaram um dos cinco cigarros do
dia, e agora estão lá, na sombra das árvores da pracinha, sentados nos
banquinhos de cimentos frente à mesinha, preparando as peças do dominó.
–
Foi isso o que eles me ofereceram – diz o mais novo deles, o que ainda não
conseguiu aceitar plenamente sua situação, embora já faça mais de ano que se
aposentou. – Por uma quantia dessas, não trabalho nem morto. É só porque tenho
mais de 60. Prefiro jogar dominó a semana inteira.
-
E começar a morrer, José.
-
Começar a morrer já comecei faz tempo. Só não dá pra aceitar trabalhar por esse
preço e tomar o lugar do cara jovem que vai ganhar mais. É só pra isso que eles
me querem: aproveitar minha experiência e me contratar por menos.
-
Os caras são barra pesada mesmo.
-
Trabalhei lá praticamente a vida todinha, doei meu sangue pra firma e agora só
sirvo pra isso. – Pequena pausa. - Você foi mais esperto.
-
Esperto eu não digo. Dei sorte. Tive a chance de abrir meu negocinho de fundo de
quintal, depois de aposentado. Dá uns trocados. Sempre tem alguém com
eletrodoméstico estragado. E eu tô lá, trabalhando como gosto, o que é o
principal. Pra não me sentir inútil; desanuviar a cabeça. Esquecer os problemas.
-
Já eu, nem se quisesse. Eu dependo das máquinas do patrão pra trabalhar. Fiquei
de mãos vazias.
-
A diferença é essa.
-
A vida todinha pra mim foi isso. Trabalhar pros outros. E depois ser deixado
pra começar a morrer. Pouco a pouco. Tipo boi dessangrando.
-
Quem é que dessangra boi, José?
-
Todos eles. São açougueiros. Nunca pensou nisso?
-
Eu não. Num gosto de pensar bobagens.
-
Pois eu penso.
-
Vai, sua vez.
-
Penso na morte. Pensar na morte não é bobagem.
-
Acho que, sim, é bobagem. É o tipo do pensamento que não tem serventia. Não
ajuda em nada. Só prejudica.
-
Você sempre foi um conformado mesmo.
-
Vai, joga.
-
Não sei por que continuo jogando com você.
-
Por que não tem outro parceiro, José. Nem você tem nem eu.
-
A primeira verdade que você diz hoje.
-
Vai, é sua vez, homem!
-
Você vai morrer achando que consertar liquidificador velho no fundo do quintal
vale alguma coisa.
-
Ainda bem que eu acho.
-
No fundo sabe que não é nada.
-
...
-
No fundo sabe que nossa vida foi servir aos outros, ser a mola do carro dos
outros, ser a comida dos outros.
-
...
-
Ser o pé dos outros.
-
Pronto! Você ganhou outra vez. Todo dia a mesma ladainha pra me distrair. Pra
mim, chega.
Furioso, Batidão ajunta as peças do dominó porque o dominó é dele e se levanta:
-
Vai pro raio que o parta, José.
Tomara que ele não tenha mãe
 Na
avenida deserta, duas horas da matina, o Gol aparece veloz, seguido por quatro
carros. O velho zelador que viu tudo da sua guarita, não se lembra da marca.
Outro Gol, talvez, ou um Ford, não sabe direito, se desculpa. Vieram como se
fosse num desses filmes da TV, numa velocidade que não dá direito pra ver. Pra
completar ele não tem vista boa e também não reconhece assim só de ver de longe
a marca de um carro, são tantas marcas hoje em dia, todo ano uma nova, ele não
conhece acompanhar. A cor também ficou nebulosa. Acha que pelo menos uns dois
tinham cor escura, não tem certeza. Os outros, cor mais clara. Como o Gol creme
ali espatifado de encontro ao muro na avenida, os dois ocupantes feridos levados
para o hospital mais perto dali. O motorista – 21 anos, como estava na carteira
– em estado grave, morreu antes de chegar no hospital. O outro – 20 anos –
também muito ferido mas por sorte um pouquinho melhor, sangrava menos, mas
talvez isso não queira dizer nada, talvez pouco sangue signifique coisa ainda
pior. O certo é que quem estava dirigindo não conseguiu frear na curva. Os
outros veículos sumiram. Nenhum parou para socorrer os amigos. Na
avenida deserta, duas horas da matina, o Gol aparece veloz, seguido por quatro
carros. O velho zelador que viu tudo da sua guarita, não se lembra da marca.
Outro Gol, talvez, ou um Ford, não sabe direito, se desculpa. Vieram como se
fosse num desses filmes da TV, numa velocidade que não dá direito pra ver. Pra
completar ele não tem vista boa e também não reconhece assim só de ver de longe
a marca de um carro, são tantas marcas hoje em dia, todo ano uma nova, ele não
conhece acompanhar. A cor também ficou nebulosa. Acha que pelo menos uns dois
tinham cor escura, não tem certeza. Os outros, cor mais clara. Como o Gol creme
ali espatifado de encontro ao muro na avenida, os dois ocupantes feridos levados
para o hospital mais perto dali. O motorista – 21 anos, como estava na carteira
– em estado grave, morreu antes de chegar no hospital. O outro – 20 anos –
também muito ferido mas por sorte um pouquinho melhor, sangrava menos, mas
talvez isso não queira dizer nada, talvez pouco sangue signifique coisa ainda
pior. O certo é que quem estava dirigindo não conseguiu frear na curva. Os
outros veículos sumiram. Nenhum parou para socorrer os amigos.
Com o
jornal na mão, Irina lê com atenção a entrevista do zelador e a notícia completa
com o nome dos feridos. Um deles ela lê duas vezes.
Marlonbrando Sandoval Guerreiro.
Conhece
esse menino.
É um dos
seus fregueses diários, um rapaz magrelo permanentemente com cara de sono, que
sempre compra Yakult e um pedaço do seu bolo de fubá. Trabalha numa firma perto
do ponto onde ela agora está montando sua mesinha com café-da-manhã. Às vezes,
conversam enquanto ele come, e ela ficou sabendo do nome. Um nome raro desses,
só pode ter um. Está sempre com sono porque estuda à noite. É simpático,
alegrinho. Fala da namorada e do chefe. A namorada é colega dele no curso
noturno, e o chefe, uma besta quadrada. Elogia o bolo e o café, O melhor que tem
por essas bandas, Dona Irina! Que pena que dá, um rapaz tão novo! O carro não
deve ser dele, nunca passou de carro por lá, sempre a pé. Só se for dos pais.
Será que ele tem família? Tem cara. Tem cara de quem tem mãe por trás, roupa
limpa, bem passada, dentes bons. Dentes bons é sinal certo de quem tem família.
De quem tomou muito leite na infância. Tem muita pena desses meninos que num
momento de falta de juízo estragam sua vida e a dos outros. Agora, depois de uma
dessas, com certeza ele abandona os “rachas”. Tomara que tenha mesmo uma mãe.
Uma mãe que possa cuidar dele e levá-lo pra casa.
Mas pena
mesmo ela tem nem é do outro, o que morreu. Esse não terá mais a chance de
sentir remorso e se arrepender, nem de sofrer. O desperdício. Mas não é dele que
ela sente pena. É da mãe. A pobre que devia estar em casa dormindo e foi
acordada com a notícia mais trágica que alguém pode receber. A inocente. A pior
das vítimas. O melhor seria se esse não tivesse mãe.
(Publicado por primeira vez em “O Popular”)
TELHADOS BRANCOS
 Não
são exatamente “telhados brancos” e, sim, tecnicamente falando, “telhados frios”
- o que a Câmara Municipal de São Paulo vem debatendo atualmente para um projeto
de lei. Não
são exatamente “telhados brancos” e, sim, tecnicamente falando, “telhados frios”
- o que a Câmara Municipal de São Paulo vem debatendo atualmente para um projeto
de lei.
A ideia é que esses
telhados reduzirão as temperaturas na cidade, além de cortar os custos de
energia e emitir menos carbono. Branco é só a maneira de dizer que deveriam ser
mais claros, podendo ser verdes, ou de telhas metálicas claras, ou pintados com
tintas de pigmentações especiais.
Um expert na matéria, o físico iraniano
Hashem Akbari, professor da Concordia University, em Montreal, diz que a cada 10
m² de telhado comum trocado por um telhado branco se deixa de emitir uma
tonelada de CO2 para a atmosfera – o que corresponde às emissões anuais de um
carro. E se todos os telhados e pavimentos do planeta fossem pintados de branco,
a queda de temperatura equivaleria a mais de um ano de emissões mundiais, cerca
de 44 gigatoneladas.
Segundo ele, o esfriamento dos telhados
possibilitaria um atraso importante nos efeitos das mudanças climáticas, dando
tempo para que outras medidas de combate ao aquecimento global possam ser
pensadas e desenvolvidas.
Quanto aos custos, e considerando que em
geral a cada 10, 20 anos um telhado se deteriora e tem de ser reformado, a cor
do telhado seria trocada nesse momento. Ao fazer uma manifestação de rotina, o
cidadão aproveitaria para fazer a mudança, sem custo adicional.
Parece bacana, não é?
Mas nem todo mundo pensa assim.
Há quem afirme que o
projeto não tem bases científicas e, portanto, não trará os benefícios
pretendidos nem para o ambiente nem para o planeta. E técnicos do Conselho
Brasileiro de Construção Sustentável (GBCS) avaliam que é preciso ter cautela e
realizar pesquisas sistemáticas antes de se adotar uma lei pública que obrigue o
cidadão a trocar a cor de seu telhado.
Será que o projeto é
bobagem ou não? Será abandonado ou encaminhado para votação?
Estamos nesse pé.
E enquanto esse debate é
feito, os quase 20 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo
esperam. Por essas e outras decisões até mais importantes. Esperam. E vão
vivendo as estações que passam, cada uma mais desiquilibrada do que a outra:
inverno com dias quentes entre os poucos dias frios; garoa praticamente sumida
das ruas paulistanas; verão de calor extraterrestre, chuvas estrondosas e
alagamentos, no meio de inesperados dias frios, como se o inverno tivesse se
confundido e voltado.
De minha parte,
favorável como sou a qualquer medida que possa reduzir a velocidade de nossa
marcha para o abismo, torço para que se confirmem as bases científicas do
projeto e que ele se torne a chamada “Lei do Telhado Branco”, e se espalhe para
as outras cidades do país.
Nem que seja pelo nome
poético e pela questão estética.
Quer dizer, não tenho
certeza, mas imagino que uma cidade de telhados e pavimentos brancos seria uma
cidade bonita. Que, vista de um avião, a vastidão desmensurada de São Paulo toda
branca, ao lado de suas manchas verdes, seria menos agressiva.
Ou não?
(Crônica publicada por
primeira vez em “O Popular”)
UMA CASA NA MEMÓRIA
 Não
que ela fosse exatamente bonita, mas era a casa da nossa avó, parte integrante
da infância de cada um dos seus 49 netos. Não
que ela fosse exatamente bonita, mas era a casa da nossa avó, parte integrante
da infância de cada um dos seus 49 netos.
A fachada era formada pelo
pequeno alpendre com um portãozinho nunca aberto (a entrada era na lateral), e
pelas três grandes janelas do salão, seguido pelo muro por onde caiam as
buganvílias vermelhas do caramanchão, brincos de princesa e jasmim.
 Pela
entrada lateral – em cuja parede branca a cada ano incrustávamos nossos nomes e
nossa pequena história – chegava-se à sala com imponente cadeira almofadada em
que se sentava Pela
entrada lateral – em cuja parede branca a cada ano incrustávamos nossos nomes e
nossa pequena história – chegava-se à sala com imponente cadeira almofadada em
que se sentava
Dona Diva de Freitas Rios,
nossa avó, sempre com o mesmo tipo de roupa de algodão leve – saia reta e
casaquinho de mangas três quartos, – cabelo branco preso em um coque na nuca.
A casa tinha cinco quartos,
duas salas (a formal, pequena, nunca usada) e o que foi o escritório de nosso
avô – além de um banheiro, o corredor de tábuas que rangiam com nossos passos, a
copa, a cozinha e seu poderoso fogão à lenha, a despensa abarrotada de delícias.
De um lado da casa, o beco
por onde corria a água que vinha do chuveiro, ao longo do muro da vizinha, Dona
Cutute. Do outro lado e nos fundos, o quintal com mangueiras, goiabeiras,
jabuticabeiras e jaqueiras cujos galhos conhecíamos praticamente todos. Perto da
casa, o poço, a casinha e um chuveiro debaixo da caixa d´água. Do outro lado, o
quarto de despejo que podia servir de dormitório, e uma latada de xuxu, resedá e
murta. Bem no fundo do quintal, uma latrina.
Pé direito alto, telhado
sem forro, paredes brancas. Embaixo, o porão tenebroso onde a eternamente velha
e querida Ú guardava os cachimbos que, supostamente, fumava escondido.
Poderia continuar falando
dessa casa, seus detalhes e móveis, cheiros e histórias. Da grossura dos tijolos
que foram feitos ali mesmo para sua construção. Mas não é o caso aqui. O caso
aqui é dizer que essa casa existiu na rua Direita, em Jaraguá, até o começo
deste ano quando foi vendida pela neta que a herdou, e logo derrubada para dar
lugar, dizem, a um centro comercial.
Tem alguma importância
isso? Aparentemente nenhuma.
Milhares de casas são
derrubadas o tempo inteiro para dar lugar ao que chamam de crescimento. Novas
casas ou prédios vão sendo construídos sobre espaços que antes eram outra coisa.
Ruas vão sendo abertas e ampliadas, e as cidades vão crescendo sem respeitar ou
valorizar sua conformação original.
Em um processo desses, uma
casa como a da minha avó não tem realmente importância, a não ser como um
pequeno drama familiar, cujo destino é ficar na memória dos netos e ir
desaparecendo com eles.
Mas não se enganem,
senhores.
Pois é assim que vão se
formando as cidades-monstrengas em que vivemos hoje, onde o passado vai sendo
enterrado com seus mortos e a beleza do vivido não vale como mercadoria e sequer
tem preço. Derrubar casas como essa é apenas um começo.
Oxalá Jaraguá tenha o bom
senso de crescer - se quiser, - mas sem se deixar desfigurar nem destruir sua
própria memória.
(Publicado pela primeira
vez no jornal “O Popular”, de Goiânia)
|
Um pouco de Jaraguá |
|
Fundação:
1833
Altitude: 666m
População: 30.651 habitantes
Área Total: 1.895,6km²
Densidade Demográfica: 16,17hab/km²
CEP: 76330-000 |
À mesa com Lygia Fagundes Telles
No começo deste mês, tive a honra de estar ao lado da Lygia Fagundes Telles.Era
uma mesa-redonda em homenagem a ela e dela participaram também Flavio Carneiro,
escritor goiano como eu, Marcelino Freire e Fabrício Carpinejar. O evento fez
parte da sexta edição dos “Encontros de Interrogação”, organizado pelo Intitulo
Itaú Cultural, em São Paulo. Por cerca duas horas, tivemos uma espécie de
conversa pública com a primeira dama da nossa literatura.
Desde muito tempo leio a Lygia, minha mãe lia a Lygia, minha filha lê a Lygia, e
minhas netas com certeza logo lerão também. A Lygia tem essa voz que fala para
várias gerações, e que hoje já é clássica no sentido de que vai permanecer, vai
ficar, já está no cânone.
Nós
que amamos a literatura brasileira, amamos a Lygia.
E sempre que a vejo, a pessoa luminosa que ela é, o que me vem à cabeça é a
ideia da beleza do talento realizado e se realizando. Das promessas cumpridas e
sendo cumpridas. São raras as pessoas que conseguem chegar aonde Lygia chegou.
Mais raras ainda, as que respondem com tanto frescor e entusiasmo, às perguntas
de fãs curiosos, e conta as coisas preciosas que ela nos contou.
contou,
por exemplo, que foi uma das três mulheres que primeiro entraram na Faculdade de
Direito do Largo do São Francisco. Naquela época, ainda cheia de preconceitos
contra as mulheres profissionais, lhe perguntaram, “O que vocês vieram fazer
aqui? Caçar maridos?” Ao que ela respondeu, enfática e maliciosa: “Também!”
Contou
que em seu romance, “As Meninas”, lançado em 1973, em plena ditadura de
Garrastazu Médici, ela colocou na íntegra um panfleto que havia recebido em sua
casa denunciando as torturas sofridas por um jovem militante preso. O escritor
tem que ser uma pessoa do seu tempo, disse, e enfatizou: “O escritor não
corrompe. O escritor pode ser um pouco louco, mas vai ajudar o leitor a se
desvencilhar da loucura; pode ser solitário, mas vai acompanhar o leitor na
solidão.”
Descreveu,
ao vivo, como se escreve um conto, dando o exemplo de como escreveu “As
formigas”. Como tudo partiu de um colar de ossinhos de anão de uma prima que
estudava medicina e ia dedilhando-os para se ajudar a decorar seus nomes.
Continuou contando como montou o ambiente do conto e o que foi acontecendo.
Depois, deu outro exemplo: de uma notícia de um jornal alemão, sobre a qual ela
queria saber mais, o marido, o também escritor e grande crítico de cinema já
falecido, Paulo Emílio Salles Gomes, lhe disse, “Se você quer saber essa
história, Lygia, senta e escreve.” E assim, de uma maneira muito simples e
vibrante, ela nos deu uma aula em poucos minutos.
Contou-nos também sobre seus encontros com Borges, e com Clarice Lispector, cujo
sotaque imitou ao recordar como uma vez Clarice lhe disse, séria: “Você sorri
muito, Lygia. Não sorria. Eu nunca sorrio. Se sorrirmos, eles não nos levam a
sério.”
No final, foi ovacionada pela plateia que lotava o não-pequeno anfiteatro.
...
De genéticas
ilustração:
http://mulheresabias.blogspot.com.html/
 Eva
se olhou no espelho. Eva
se olhou no espelho.
- Nossa!,
estou a cara da minha mãe. Você não está achando Adão?
- Não
conheci sua mãe, amor, como vou saber?
- Mas não
estou engordando?
- Não, você
está linda, como sempre.
- Então, de
onde foi que puxei essa meia papinha e esses olhos cada vez empapuçados?
- Dos
drinques e aperitivo dos nossos happy-hours?
- Adão!! O
que você está insinuando?
- Nada,
querida. Estou só lembrando que há mil fatores envolvidos em uma meia papinha e
o misterioso empapuçamento de uns olhos preciosos, meu amor.
- Hum.
E continuou
seu escrutínio no espelho, nada satisfeita. Segundinhos depois, não resiste e
volta a comentar com Adão.
- Só podem
vir da minha genética, esses quadris! O DNA faz cada coisa com a gente! Ontem
mesmo eu estava lendo um livro que a Se-
- Não me
venha falar da cobra dessa sua amiga!
- Você nem
sabe se vou falar dela!
- Claro que
sei. Com certeza, foi ela quem lhe emprestou esse livro. É bem coisa dela
colocar minhocas na sua cabeça.
- DNA é
minhoca?
-
Dependendo, é.
- Credo,
Adão, você anda estranho. Acho que seu Chefe está te explorando demais. Você
precisa ter uma conversinha com Ele.
- Já
conversei mil vezes, Eva. Você sabe que não adianta! Deixa Ele em paz!
Pausa
prolongada. Por fim, Eva abandona o espelho e senta-se ao lado de Adão, vendo
televisão.
- E nossos
filhos, querido? Você acha que eles vão ficar parecidos comigo ou com você
quando crescerem?
- Isso já
dá pra ver. Belzinho comigo, Cacá com você.
- Não digo
o temperamento, amor. Digo fisicamente.
- Estou
falando do físico e do temperamento. Um mais pacato, o outro mais impulsivo.
- Mas sabe
que há toda uma discussão sobre as influências que formam os filhos. Tem
estudiosos que dizem que o ser humano nasce como uma tábula rasa onde os pais, a
sociedade, a cultura, o meio ambiente, a luta pela vida, etc., vão fazendo das
suas. Outros, como o autor desse livro que estou lendo, um cientista
famosézinho, diz que não é exatamente assim. Que todos já nascemos com várias de
nossas-
- Meus
Deus! essa sua amiga!
- Adão, ela
não tem nada a ver isso! Nem filhos a pobre tem. E você anda me ofendendo muito,
sabe?, insinuando que eu não penso com a minha própria cabeça.
- Imagina,
amor! Uma das coisas que sempre admirei em você, além desse rostinho lindo e
dessas curvas deliciosas que agora você está dizendo que são genéticas, foi seu
espírito curioso, questionador, novidadeiro! Esse seu medo nenhum do
desconhecido. Sua vontade de aprender, de descobrir, de ir além do programado!
Sou o primeiro a reconhecer, meu amor, que eu não seria o que sou hoje sem você!
- Que
exageeeero,querido!
- Estou
falando sério!
- Cê jura?!
- Hummm,
hmmmm! Seu DNA é ótimo, sabia?
- Hummm! O
seu também, amorzinho.
De repente,
com um safanão, o olfato muito sensível de Adão interrompe o enlevo.
- Eva, que
cheiro intragável é esse vindo da cozinha? Você ainda não jogou fora aquela maçã
mordida?
 Imagine
a Cena Imagine
a Cena
A casa é
simples, de alvenaria, uma entre cinco outras espalhadas pela mesma rua de
terra, de um bairro da zona rural. Tem a mãe, o pai, dois filhos. O maior, de
sete anos, vai toda manhã pra escola a um quilômetro, distância que percorre
junto com os filhos mais velhos dos vizinhos. O pai cultiva uma roça de milho. A
mãe cuida da casa, das galinhas, do filho de seis meses.
O pai já
saiu pra roça faz tempo, o menino mais velho está na escola, o nenê dorme no
berço no quarto. A mãe amarra na cabeça um lenço de estampas vermelhas pra não
pegar o poeirão da seca e vai varrer o quintal.
É quando
escuta o barulho.
Barulho
mesmo, barulhão de pancada forte e coisarada quebrando e coisarada caindo.
Jesus,
Maria e José!, exclama. O menino!
Corre para
o quarto, é de lá que vem o barulho agora já enfraquecido, só quase o eco do
barulhão primeiro, parecendo mais uma arrumação final, junto com o choro do nenê
e como que uns bufos, uns resfolegos, um bater de cascos no chão de cimento, uma
zoada que quando ela escancara a porta, ela vê: os olhos molhados de uma vaca se
levantando assustada do meio de um monte de telhas e madeirame quebrados, a
centímetros do berço.
Tivesse os
nervos fracos, a mãe desmaiaria ali. A vaca, tivesse também os nervos fracos ou
corpo menos resistente, teria até mais razões para desmaiar ali entre os
destroços onde estava antes seu doce capim. As duas se olham, a mulher e a vaca.
É uma vaca normal, da cor amarronzada de uma vaca pacata e sem asas,
absolutamente sem asas. Só os olhões embaraçados de animal que não tem a menor
ideia de onde está nem o que fazer. Resta-lhe só o instinto. E com ele entende
que da abertura de onde veio a mulher é por onde deve sair, desminlinguida,
insegura. Sua vontade é correr mas entende que é melhor se controlar, ir
tateando e reparando, até ver a luz vindo de uma outra abertura, a da frente, e
em direção à luz salvadora ela se arremessa já com outro vigor, e é quando no
vão iluminado aparece a velha vizinha, a primeira a correr pra lá alertada pelo
barulho, e que ao querer entrar pela mesma porta por onde a vaca quer sair, cai
atropelada tanto pelo susto quanto pelo empurrão do animal desembestando de vez
pelo largo da rua.
Outras
vizinhas, que também vêm correndo, param por um momento, sem saber o que pensar
de uma vaca saindo de uma casa igual às delas, por mais comum que a vaca seja.
Enquanto uma socorre a velha esparramada no chão, as outras entram aos
trambolhões em direção ao quarto. No teto, um buraco enorme no telhado; no
chão, os destroços. Ao lado, a mãe segurando o bebê.
Uma delas
entende a situação de imediato. O barranco alto bem ao lado da casa. Veio de lá
a vaca que devia estar na dela, pastando. Deu um passo em falso e caiu direto no
telhado da casa.
Era só o
que lhes faltava: chuva de vacas.
E eu, lendo
a notícia do que ocorreu na cidadezinha mineira, pensei comigo: não tem
imaginação de escritor capaz de concorrer com essa realidade delirante. Realismo
fantástico é pouco!
(Publicado
por primeira vez em “O Popular”)
Os crimes do vizinho
Seu Freijó ficou gravado
na infância de Maria Rita por dois assassinatos.
O primeiro, o tiro que
deu no peito de sua cachorra Rainha.
Rainha latia muito,
latidos que redobravam quando Seu Freijó passava, como se já pressentisse o
significado dele em seu destino – não à toa falam do sexto-sentido dos bichos. E
latia muito também, quando cheirava a odiosa presença do vizinho do outro lado
do muro alto de tijolos brancos do quintal. Latidos agudos, histéricos, insanos:
havia algo ali e ela sabia disso, a pobre cachorra, rainha impotente de um reino
inexistente.
O outro assassinato do
Seu Freijó foi metafórico porém fecundo, se é que se pode dizer isso de um
assassinato.
Maria Rita era amiga da
filha do vizinho, adolescente como ela, dona do clássico nome Aspásia. Às vezes
emprestavam livros uma para outra, e Maria Rita lhe emprestou um livro de Edgar
Allan Poe. Quando a imponente Aspásia lhe devolveu seu Poe, Maria Rita se
deparou com um livro completamente cheio de rabiscos; não exatamente rabiscos,
correções. O que Aspásia, orgulho irradiando dos olhos superiores lhe explicou
que eram erros que seu pai havia encontrado no livro, “Está vendo o tanto!?”.
Certa de que iria
encontrar nos olhos da amiga concordância e admiração, o que viu foi estupor:
“Como assim? Que erros?! Como Seu Freijó ousara corrigir Edgar Allan Poe! Como
que direito! O que era aquilo?!”
Tão consternada e
furiosa Maria Rita entrou em casa que por pouco não pisava no rabo de Faniquito,
o gato quase mudo que substituiu Rainha. Lágrimas prestes a cair dos olhos
cheios, contou o ultraje: “Aquele monstro, mamãe! Olha meu livro todo rabiscado!
Como aquele assassino foi capaz de fazer uma coisa dessas. Por que ele não está
preso?!”
Aos poucos, a revolta
dando lugar à curiosidade espicaçada, examinando as correções, e sem sequer
imaginar os absurdos que podem ser cometidos por uma impressão tipográfica
desleixada, Maria Rita teve que admitir que talvez, sim, aqui. E aqui, não!?
Será?! Não é possível! Não!!
Com o tempo, passado o
insulto, ficou a desolação, a terra arrasada, as ruínas de uma absurda
catástrofe. Se seus amados escritores não sabiam escrever português, tudo então
era possível. O sagrado não existia mais, assassinado pelo Seu Freijó.
E ali terminou sua fé
nas coisas e nas pessoas perfeitas.
Felizmente, não seu
raciocínio.
Pois se um mero vizinho
podia achar erros em Poe, era o impossível que se tornava possível, e o mundo se
revelava imenso e novo. Se o conhecimento não está talhado nas pedras e tampouco
nas páginas de um livro, não pode ser um dogma. Se as pessoas não são perfeitas,
não há ídolos nem heróis, verdadeiros ou falsos. O homem acerta porque foi capaz
de errar e, porque foi capaz de errar, acerta.
A descoberta das
inconcebíveis contradições de um mundo não perfeito abria espaços novos e
extraordinários.
No seu sofá do seu
analista, anos depois, Maria Rita entendeu o quanto devia agradecer ao segundo
crime do Seu Freijó.
Ando
prevendo coisas
 De uns tempos pra cá ando
prevendo coisas, e não estou gostando disso. De uns tempos pra cá ando
prevendo coisas, e não estou gostando disso.
Quando saí e minha filha disse,
“Cuidado, mãe, tá chovendo pedra!”, de imediato pensei, “Vai acontecer alguma
coisa”. E tanto foi assim que ao pisar no freio, vendo a traseira do carro
branco se avolumar à minha frente, o único pensamento que tive foi: “Mas eu
previ isso!”
Teve um dia, também, que saí de
casa prevendo que encontraria alguém conhecido na caminhada diária e nem foi
preciso virar a esquina para trombar com “uma” alguém. Uma “alguém” de quem não
gosto, e o fato de ter previsto a situação contribuiu para o espanto que,
surpresa, ela traduziu como simpatia. Melhor assim.
E teve outro dia também que
acordei pensando, “Hoje vou ter uma notícia boa”, e tive. O que acabou me
ensinando que esse tipo de coisa não dá pra forjar pois no dia seguinte, embora
tenha falado sorrateira pra mim mesma, “Acorde amanhã pensando que vai ter outra
notícia boa”, não deu certo. Se há uma maneira de manipular o destino, ainda não
aprendi.
As previsões que temos todos os
dias e que quase sempre dão certo, tipo “esse filme vai ser um abacaxi” ou “vou
adorar esse livro” ou o telefone que toca e sabemos quem é não contam. Aliás,
essa é facílima: eu adivinho bastante de quem são os telefonemas que recebo. Mas
todo esse tipo de premonições corriqueiras é, sabemos, resultado de uma série de
informações, conhecimento, experiências que vão se acumulando e nos tornando
verdadeiras “súmulas ambulantes” em matéria de previsões.
O que, de fato, somos.
Vivemos porque prevemos.
Somos animais capazes de prever o futuro, e é isso o que nos salva, se é que
podemos dizer que temos nos salvado. Para planejar, é preciso prever, e até onde
sei, o homem é o bicho que planeja. Fazemos isso todo santo dia. Acordamos com
nossos planos e previsões, e mais ainda: planos e previsões otimistas,
caso contrário possivelmente nem levantaríamos a cabeça do travesseiro, muito
menos colocaríamos o pé no chão. Que os pessimistas me perdoem mas o homem é,
por natureza, otimista. Ter certeza que o sol vai dispor seus raios em nossa
janela amanhã no mesmo horário, e que nenhum astro distraído cairá hoje em nossa
cabeça é, pense bem, de um otimismo estonteante!
A questão, na verdade,
começa quando os fatos fogem das previsões rotineiras. Ou saem ao contrário do
que pensávamos. Assim, quando começamos a achar que alguma coisa está errada
(não conosco, com o mundo), e soltamos aquele lamento incrédulo, “Não é possível
que esteja acontecendo isso!”, prepare-se. De um jeito ou de outro, vamos
sofrer.
Por isso, a frase do
começo. Acho insuportável ter lampejos de previsão. Nem por brincadeira vou a
cartomantes. Claro que não acredito, mas vai que ela preveja alguma coisa ruim,
e vai que o diabo atente e ela acerte? Há tanta coisa inexplicável no mundo para
uma mente, como a minha, que sequer entende direito como uma televisão funciona,
que não; melhor não arriscar. Só se as cartomantes garantissem prever apenas
coisas boas.
Aí, sim. Eu não
perderia uma.
(Crônica publicada
por primeira vez no jornal “O Popular”, de Goiânia.)
A
ordem dos fatores
 O barulho do helicóptero invade a região de prédios, e é assim quase todo dia,
um barulho tão conhecido que a mulher que escova os dentes frente ao espelho, ao
lado da janela aberta do banheiro já nem olha; mas o menino do nono andar mal
ouve o ronco corre para a janela de grades e olha interessado a máquina voadora
que passa de manhã e à tardinha e, nos dias de sorte, passam vários, e ele olha
todos, não perde um, ainda que a babá lhe faça, todo dia, a mesma pergunta,
“Você não enjoa, Dudu”? O rapaz que sai do prédio já atrasado nem levanta a
cabeça, mas o porteiro, sim, não sempre, mas quando eles passam voando baixo
como hoje, ele não resiste e olha. Entre os pedestres, alguns olham; outros já
estão surdos aos ruídos cotidianos. Os funcionários do prédio do heliporto,
esses não escutam nada, a não ser os do último andar onde fica a presidência. Do
ângulo contrário, o piloto, como a criança do nono andar, é o único que presta
atenção ao entorno. É seu trabalho prestar atenção e ele gosta do que faz, e
olha pra baixo e vê o topo de cada um dos prédios que conhece como se fossem
seus, e as figuras minúsculas passando pelas ruas, avenida e viadutos. Ele ama
tudo aquilo e numa manhã de sol como essa, sente-se feliz ali no alto do céu
claro e azul, é raro isso, essa ausência de poluição. Por um segundo, o piloto
desvia os olhos para o patrão ao lado, o dono do helicóptero e dono do banco e
dono do prédio, o senhor grisalho que olha pela janela com olhos de quem nada vê
e não está em um bom dia, o piloto pressente, e faz a manobra o mais suavemente
possível, contente de deixar logo o patrão que hoje parece mais pesado. Mal
aterrissa, o presidente desce envolvido pelo vento. Um assessor vem a seu
encontro e, juntos, caminham rápido até a pequena porta que conduz direto ao
elevador. O assessor lhe passa o celular. Ele escuta. Nenhum som de sua parte,
uma ira fria impedindo a resposta. Desliga. O assessor, mais subserviente e
nervoso que o habitual, espera a explosão que não vem; o banqueiro entra no
saguão luxuoso da sala onde a vista da cidade se oferece, esplêndida, a seus
olhos que tampouco nada vêem agora como nada viram do helicóptero. A dor corta-o
ao meio. Ele passa pela mesa da secretária e, sem nem mesmo o mecânico bom-dia
de praxe, dá suas ordens: “Encontre o
advogado Laudério, imediatamente, e cancele toda a agenda de hoje. Depois, me
traga um comprimido daqueles verdes.” O barulho do helicóptero invade a região de prédios, e é assim quase todo dia,
um barulho tão conhecido que a mulher que escova os dentes frente ao espelho, ao
lado da janela aberta do banheiro já nem olha; mas o menino do nono andar mal
ouve o ronco corre para a janela de grades e olha interessado a máquina voadora
que passa de manhã e à tardinha e, nos dias de sorte, passam vários, e ele olha
todos, não perde um, ainda que a babá lhe faça, todo dia, a mesma pergunta,
“Você não enjoa, Dudu”? O rapaz que sai do prédio já atrasado nem levanta a
cabeça, mas o porteiro, sim, não sempre, mas quando eles passam voando baixo
como hoje, ele não resiste e olha. Entre os pedestres, alguns olham; outros já
estão surdos aos ruídos cotidianos. Os funcionários do prédio do heliporto,
esses não escutam nada, a não ser os do último andar onde fica a presidência. Do
ângulo contrário, o piloto, como a criança do nono andar, é o único que presta
atenção ao entorno. É seu trabalho prestar atenção e ele gosta do que faz, e
olha pra baixo e vê o topo de cada um dos prédios que conhece como se fossem
seus, e as figuras minúsculas passando pelas ruas, avenida e viadutos. Ele ama
tudo aquilo e numa manhã de sol como essa, sente-se feliz ali no alto do céu
claro e azul, é raro isso, essa ausência de poluição. Por um segundo, o piloto
desvia os olhos para o patrão ao lado, o dono do helicóptero e dono do banco e
dono do prédio, o senhor grisalho que olha pela janela com olhos de quem nada vê
e não está em um bom dia, o piloto pressente, e faz a manobra o mais suavemente
possível, contente de deixar logo o patrão que hoje parece mais pesado. Mal
aterrissa, o presidente desce envolvido pelo vento. Um assessor vem a seu
encontro e, juntos, caminham rápido até a pequena porta que conduz direto ao
elevador. O assessor lhe passa o celular. Ele escuta. Nenhum som de sua parte,
uma ira fria impedindo a resposta. Desliga. O assessor, mais subserviente e
nervoso que o habitual, espera a explosão que não vem; o banqueiro entra no
saguão luxuoso da sala onde a vista da cidade se oferece, esplêndida, a seus
olhos que tampouco nada vêem agora como nada viram do helicóptero. A dor corta-o
ao meio. Ele passa pela mesa da secretária e, sem nem mesmo o mecânico bom-dia
de praxe, dá suas ordens: “Encontre o
advogado Laudério, imediatamente, e cancele toda a agenda de hoje. Depois, me
traga um comprimido daqueles verdes.”
Ao entrar em sua sala, vacila: não seria o caso de mandar chamar seu médico?
Sente a camisa se encharcar de suor e ouve, por um brevíssimo instante, a
música que vem de algum lugar indecifrável e distante.
Os putos.
Quando a secretária
entra na sala com o remédio, ele está no chão.
Dona Ludmila, que
trabalha ali há 20 anos e dois meses, viverá o resto de seus dias mortificada
pela dúvida grudenta como chiclete: se, por uma vez na vida, tivesse invertido a
ordem das ordens do Dr. Genuíno, levando o remédio primeiro, ele ainda estaria
vivo?
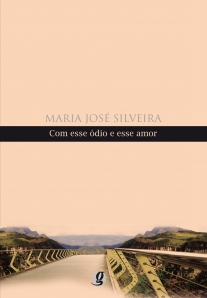 Trecho do
romance de Maria José mais recente, Trecho do
romance de Maria José mais recente,
“Com esse ódio e esse amor”, lançado pela Editora Global:
Lela
termina de ler o jornal e escreve um e.mail para o padrinho, especulando um
pouco sobre essas coisas que sabe que lhe interessam. E que a ela lhe desperta
curiosidade, sim, mas não chega realmente a preocupar. Ela não tem nada a ver
com tudo isso que está completamente fora da sua vida e dos seus problemas. Mas
é que vivendo ali, não há como escapar dessas notícias e discussões, e Lela
acaba se deixando envolver pelas histórias que a cercam. É natural. Boa parte
disso deve vir de Roque e seus amigos, que são assim e é com eles que ela tem
convivido mais. E também porque não dá para abrir um jornal sem dar de cara com
notícias sobre reféns, sequestros, “paracos”, atentados. Viver em um país de
conflito aberto dá nisso: você não tem como escapar de ficar sabendo da
existência deles.
Telefona
para o pai.
Que hoje
está animado, o que a deixa contente. Lela andava preocupada com o estado de
espírito dele, e nem sempre esses telefonemas a tranquilizam. Está ficando
velho, seu pai – ela pensa. Não havia ainda percebido claramente isso. Mas vê
que está acontecendo. Lembra das veias azuis protuberantes que começara a
observar em suas mãos. Talvez, quando criança, tenha reparado – crianças reparam
nessas coisas – nas protuberâncias das mãos dos mais velhos, pois quando as viu
nas mãos quadradas e de dedos curtos do pai, não gostou do que viu. Os cabelos
grisalhos ela não associava à idade, talvez porque tenham embraquecido cedo e
lentamente, dando-lhe tempo de se acostumar a eles. Há vários anos, seu pai já
está todo grisalho. E agora, as veias e manchas. E sim, claro, também as rugas,
e a pele do rosto mais flácida quando ela o beija. Como um pastel sem recheio.
Volta ao
computador e abre blogs ao léu.
O ponto
morto do domingo, o marasmo. Roque viajou para Cartagena, onde os pais moram.
Convidou-a, e ela até pensou em aceitar, mas para ficar um final de semana é
pouco, a cidade é para ser vista com calma. Irá quando puder ficar mais tempo.
Talvez
pegue um cinema mais tarde.
Seu
desconforto não vem só do domingo.
Desde que
acordou, sombras se movimentam ao largo querendo se insinuar, querendo invadir o
que pensa. Mas Lela tem isso de bom: consegue não pensar no que não quer pensar.
Nem sempre, mas na maioria das vezes, pelo menos.
Volta ao
computador.
Começa a
escrever um e.mail para o padrinho que praticamente abandonou as conversas por
telefone. Telefone é coisa do passado, ele diz, e só usa seu celular para dizer
sim, não, e marcar coisas urgentes. No que é, outra vez, o oposto simétrico de
seu pai que só usa e.mails no trabalho. Fora isso, só telefone.
Como são
diferentes esses dois!
Escreve
para o padrinho e depois tenta trabalhar um pouco. Sente que lhe fará bem. É
tudo tão claro, objetivo e certo com as estruturas concretas, físicas, palpáveis
da engenharia. Sente alívio nessa concretude. A engenharia e seu mundo de
estruturas calculadas nos mínimos e precisos detalhes. Faz bem saber que existe
um mundo assim.
O que o
estraga somos nós. Pessoas.
Na sexta,
ela estava almoçando com Mercedes, quando o Eng. Poncho Londoño passou pela mesa
das duas. Fingiu que não as viu e não as cumprimentou.
Cada vez
mais bonito e besta, diz Mercedes. Ele continua contra seu projeto?
Bem, contra
mesmo ele não pode ser, Lela responde. Não pode ser contra um projeto que
ganhou a licitação. Mas sem dúvida implica bastante. Aproveita qualquer chance
para remarcar o quanto é dispendioso e inadequado para a região. Também reclama
muito da urgência, e nisso tem razão. O projeto não foi pensado para essa
urgência toda.
Olhos
abertos, darling! É cheio de manobras esse tipo – e Mercedes bate a
pontinha do guardanapo em um canto dos lábios.
Mas tem uma
coisa, diz Lela: ele só fala quando tem plateia, especialmente a plateia
especialíssima dos ouvidos e olhos do Eng. Kublik.
Evidente, o
que ele quer é se mostrar. Como se precisasse se esforçar para isso,
my Gosh!! É só ele entrar, que não consigo olhar pra coisa alguma – Mercedes
ri. Que beleza de homem! Ele pode ser a besta que é, mas ainda vou dobrá-lo,
darling, você vai ver.
Cínica!
provoca Lela.
As duas
riem e Mercedes muda para outro de seus assuntos preferidos: contar disparates
sobre o Eng.Anton Kublik, o sócio colombiano diretor da empresa, e sua esposa,
morena exuberante que se julga a própria Rainha de Sabá. De tempos em tempos,
ela aparece para visitar o marido; belisca as bochechas dele na frente de todo
mundo e diz, “Fofinho!” O rechonchudo engenheiro vira um tomate. Deve ser de
descendência germânica, todo branco e pintalgado de manchas brancas de sol e
cabelos tão ralos que parece um piso bem encerado mas varrido com desleixo.
No ano
passado, ele levou a mulher para conhecer a aurora-boreal, Mercedes conta, mal
contendo as risadas. Acham o suprassumo poder dizer que conhecem a aurora
boreal. E de lá ela trouxe pantufas com cara de urso polar para seu Fofinho!
Para ela mesma, um par com cara de ursinha – foi Carmita, a secretária, quem me
contou. Imagine só: nas manhãs de domingo, o casal acordando e colocando suas
pantufas-ursinhos para ler os jornais, e se achando lindos, fofinhos, up to
date: os dois sentados na sala, de pijama e robe, e os pés, quatro
atarantados animaizinhos nórdicos, ronronando embaixo.
Será que
eles ronronam um para o outro?
Risadas
espalhafatosas das duas. Levantar de cabeças nas mesas próximas à delas. Do
outro canto, o Eng.Londoño lança-lhes um olhar ostensivo.
Você já viu
o filho mais velho que aparece de vez em quando? , Mercedes continua,
inabalável. O herdeiro-mor? De pele azeda e descorada, daquele tipo que chama de
branca por falta de opção. O cabelo também louro aguado e as sobrancelhas e os
cílios invisíveis de tão brancos. Disgusting! Como é herdeiro, tem muito
tempo livre e vive acomodando o saco – sim, sim, dear, o saco físico,
aquele lá de baixo que só os homens têm. Acha que é coisa de macho pôr a mão no
saco a toda hora para dar uma mexidinha e conferir se tudo continua no lugar.
Outro
reboliço na mesa. O Eng. Londoño espicha o pescoço, recriminador.
É a família
típica dos ricos cafonas que temos por aqui, Mercedes diz.
Não seja
presunçosa, querida!, corrige Lela. Esses tipos também abundam no Brasil.
Londoño,
cada vez mais irriquieto, não consegue esconder a irritação. Não escuta o que as
duas falam, só as gargalhadas.
Lela avisa
Mercedes, Seu queridinho não pára de se virar pra cá! Deve pensar que estamos
rindo dele, o vórtice do mundo.
Pessoas!,
ela repete agora.
E volta a
suas fórmulas no computador.
Vira,
vira

No
primeiro ano, 2005, torci o nariz: Bobagem! pensei. Não vai dar certo. Política
pública tem que ter continuidade.
No segundo ano, dei de ombro: Vamos ver
até onde vai isso.
No terceiro e quarto, comecei a prestar
atenção.
E agora, no sétimo ano, virei fã.
Botar uma megalópole como São Paulo
curtindo todo tipo de arte em seus espaços públicos é de tirar o chapéu. Foi o
que aconteceu das 18 horas de um sábado do mês de abril às 18 horas do domingo,
em 24 horas ininterruptas de programação pela cidade, em sua sétima Vira
Cultural. A cidade respirou, vibrou e festejou: quatro milhões de pessoas nas
ruas curtindo mais de mil apresentações.
 A
programação musical é o carro-chefe no evento que tem as mais variadas atrações
e vira um encontro dos cidadãos e artistas de diferentes tribos e linguagens
(erudita, popular, sertaneja, eletrônica, vanguarda, experimental). Artistas
internacionais, nacionais, locais. Teatro, ópera, circo, humor, luta livre,
comédia, mágicos, acrobatas, pole dance, exposições. Rap, forró, tango,
samba-enredo e a maior bateria de escola de samba jamais vista, com mais de mil
ritmistas. A
programação musical é o carro-chefe no evento que tem as mais variadas atrações
e vira um encontro dos cidadãos e artistas de diferentes tribos e linguagens
(erudita, popular, sertaneja, eletrônica, vanguarda, experimental). Artistas
internacionais, nacionais, locais. Teatro, ópera, circo, humor, luta livre,
comédia, mágicos, acrobatas, pole dance, exposições. Rap, forró, tango,
samba-enredo e a maior bateria de escola de samba jamais vista, com mais de mil
ritmistas.
São diversos palcos espalhados ao ar livre
por várias regiões da cidade, além da participação de artistas de rua, e da
intensa programação elaborada pelo SESC – correalizador da Virada Cultural, ao
lado da Secretaria Municipal da Cultura, e o interessante é que os nomes do
secretário e do prefeito sequer apareceram. Coisa rara: um evento sem exploração
política. Uma festa na cidade e para a cidade, sem políticos no
meio, como deve ser.
Todas as apresentações são gratuitas. As
multidões vão de atração a atração. Olham, curtem, participam. Aplaudem. Todo
mundo, interessado e – eu diria – contente, ainda que momentaneamente, ali,
naquelas vinte e quatro horas.
 Como nada nasce de si mesmo, a inspiração
do evento veio de Paris e sua Nuit Blanche, e fico imaginando que é o
tipo da ideia que poderia ser replicada em várias capitais, cada uma de seu
jeito específico. Deve dar um trabalho danado essa organização, com certeza é
necessário uma boa verba – que infelizmente poucas secretarias de cultura de
nossos municípios têm - mas ocupar os espaços públicos com arte de vários tipos
e feitios é realmente uma coisa bonita. Como nada nasce de si mesmo, a inspiração
do evento veio de Paris e sua Nuit Blanche, e fico imaginando que é o
tipo da ideia que poderia ser replicada em várias capitais, cada uma de seu
jeito específico. Deve dar um trabalho danado essa organização, com certeza é
necessário uma boa verba – que infelizmente poucas secretarias de cultura de
nossos municípios têm - mas ocupar os espaços públicos com arte de vários tipos
e feitios é realmente uma coisa bonita.
E o
interessante de um evento como esse é também nos fazer lembrar uma verdade
muitas vezes esquecida: os espaços públicos, os locais de convivência e encontro
de seus vários tipos de habitantes, são a alma de uma cidade, o que faz dela
cidade e não apenas um amontoado de gente. Suas praças, seus parques, suas
escolas públicas, suas bibliotecas públicas, seus monumentos públicos, suas
ruas, suas calçadas, seus espaços de encontros, lazer, arte, tudo isso junto é
que a faz ser cidade, distanciando-a dos campos com seus pedaços maiores ou
menores de terra, e tornando seus habitantes cidadãos.
É o que faz dela uma cidade amada. Ou não.
Um tipo de economia caseira

Outro dia fui
convidada para falar no Instituto Pensarte, aqui em São Paulo, sobre a atividade
literária como economia caseira. Achei tão inusitado o tema que aceitei. E foi
só começar a pensar no livro sob esse enfoque para perceber o que devia ser
óbvio: o ofício da escrita é, de fato, produção caseira. Os escritores
trabalham em casa, gastam apenas com a compra e manutenção do computador, e com
pesquisas (os que fazem pesquisa, o que significa compra de livros, viagens,
entrevistas, esse tipo de gasto).
No fundamental,
nossa atividade profissional consiste em passar dias, meses, anos, sentados
frente ao computador, examinando concentrados o ar à nossa frente. No processo
criativo, o que investimos é, sobretudo, nosso tempo.
Mas o texto
originado na frente do computador em algum espaço da casa do escritor vai
alimentar um complexo processo de produção que não tem nada de caseiro e
movimenta uma parte nada desprezível da economia do país. Em torno dessa
atividade caseira, na aparência muito simples, ergue-se uma indústria
formidável: editoras, gráficas, parte da indústria de papel, distribuidoras,
livrarias, bibliotecas, e agora e.books, todos com seus profissionais de
produção, marketing e comercialização: ou seja, milhares e milhares de pessoas.
Sem contar o livro que vira filme, teatro, minissérie e envolve outros milhares
de profissionais.
Considerem
esses dados: meu novo romance, “Com esse ódio e esse amor” que, com pausas e
retomadas, levei cerca de dois anos escrevendo na sala da minha casa, foi
alimentar, como matéria prima, o processo de produção da Editora Global, que tem
cerca de 90 funcionários. Foi impresso na gráfica Paym, com cerca de outros 80.
Está (supostamente) sendo vendido nas cercas de 2.000 livrarias do país, todas
elas com seus não sei quantos funcionários.
Nunca se viu tantos
escritores no país, tantos cursos e oficinas para quem deseja escrever, tantos
prêmios (bons), tantas festas literárias. Segundo pesquisa recente, 20% dos
escritores brasileiros são profissionais que têm a venda de seus livros e
atividades ligadas à escrita como parte de sua renda mensal. Eu e vários amigos
escritores, estamos dentro dessa estatística que era quase impensável algumas
décadas atrás.
Sem dúvida, inúmeros
problemas permanecem. Entre eles, a necessidade de uma rede de biblioteca
públicas, fundamental para o acesso da população ao livro; e a implantação de
políticas públicas capazes de garantir nossa diversidade cultural e o acesso ao
conhecimento.
Mas o interessante é
pensar que tudo isso é parte da indústria editorial brasileira que hoje é a
maior da América Latina e a oitava em volume de produção do planeta. E desde que
mantido o nível dos investimentos em educação que, de alguns anos para cá vem
sendo feito de maneira constante e positiva, suas perspectivas futuras são bem
favoráveis.
Nada mal para uma produção
que começa caseira, certo?
Devagar com o andor
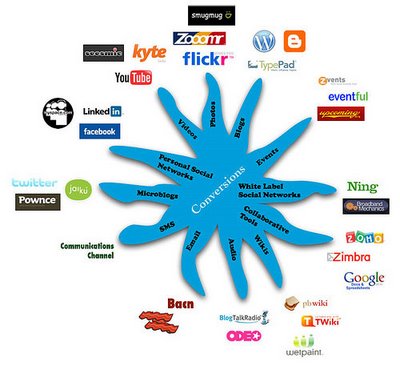 Sou
fascinada com as redes sociais. Sou
fascinada com as redes sociais.
Sobretudo com o Facebook, a “cidade
digital capaz de conectar 500 milhões de habitantes”, como já foi definido.
Todo dia me espanto com as inúmeras possibilidades inimagináveis de conexões que
ele nos traz. Nele, hoje, tenho quase 1.500 “amigos” e o acesso a pessoas que,
mesmo se antes estivessem no meu radar, digamos assim, até poucos meses atrás eu
jamais imaginaria que, agora, estariam a um toque de digitação da minha mão.
Claro que essas pessoas com as quais
passamos a ter a possibilidade de acesso através do Facebook são chamadas de
“amigos” por falta de uma expressão melhor, e pela própria motivação inicial de
sua criação como ferramenta da web. Quem assistiu ao filme “Rede Social” viu
como ele foi criado para ligar amigos de uma universidade e daí se espalhou e se
espalhou, até chegar aos 500 milhões atuais – número em constante mutação, para
baixo ou para cima, pela própria natureza da web.
Bom, isso é uma coisa.
Daí a dizer, como um conhecido
analista político disse, a propósito dos recentes acontecimentos no mundo árabe,
que os oprimidos se ergueram em revolta “por obra e graça do Facebook”, ou que
seu jovem e nerd inventor “deflagrou uma mudança histórica no mundo árabe” é um
salto de vara sobre a realidade merecedor de medalha olímpica.
Credo em cruz, como diria minha avó,
como é fácil mitificar!
Como é possível escrever que uma
ferramenta tecnológica foi a “deflagradora” de um movimento popular e se
esquecer que um movimento popular, como o próprio nome indica, é deflagrado
pelas pessoas que formam um coletivo chamado povo de um país, e que para tanto
sempre usou e usa o que o teve e tem à mão para se expressar, se comunicar, se
reunir: voz, gritos, berros, berrantes, autofalantes, comícios, panfletos,
telefones, celulares, e agora o Twitter, o blog, o Facebook.
Qualquer uma dessas coisas é apenas
uma ferramenta, com alcance maior ou menor, mas jamais deixa de ser isso:
ferramenta. Que é fantástico o alcance das novas tecnologias da comunicação é
absolutamente verdadeiro. Mas sugerir que sem ela os tunisianos não teriam se
erguido e incendiado o mundo árabe com a faísca da rebelião contra suas
respectivas ditaduras é demasiada simplificação. O que deflagra um movimento são
as condições de vida de um país chegando a tal ponto que ao povo não resta saída
a não ser dizer “Basta!”.
Sem dúvida, a web facilita
enormemente a comunicação e a mobilização; é de grande, enorme ajuda; e ponto
final. Mas quando as condições de uma revolta amadurecem, é difícil sufocá-la.
Lembrem-se dos anos 60, ainda tão perto de nós, quando uma onda de rebelião
incendiou vários e variados países. Rebelião que também se espalhou qual faísca
atravessando continentes e oceanos, quando a internet sequer existia.
Portanto, vamos admirar a web,
louvá-la, badalá-la. Ou execrá-la, como gostam de fazer os apocalípticos.
Mas tentemos segurar nossa onda para
não mitificá-la.
Ela não precisa disso. Nem nós.
Abdicação da massa cinzenta
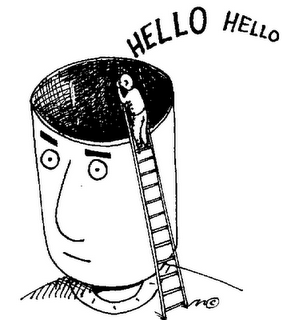 Uma das coisas aborrecidas da vida é conversar com pessoas que tendem a
generalizar o que veem e vivem em seu pequeno mundo. O mundo maior, o outro,
aquele que é o de todos nós, é pseudo compreendido a partir de sua restrita
experiência pessoal. São pessoas que elevam o senso comum a uma teoria geral. As
aparências à força da verdade.
Uma das coisas aborrecidas da vida é conversar com pessoas que tendem a
generalizar o que veem e vivem em seu pequeno mundo. O mundo maior, o outro,
aquele que é o de todos nós, é pseudo compreendido a partir de sua restrita
experiência pessoal. São pessoas que elevam o senso comum a uma teoria geral. As
aparências à força da verdade.
O pior é
que essa característica não é nada rara: muita gente gosta de repetir impressões
da realidade como afirmações comprovadas. Dizer, por exemplo, “os homens são
todos iguais”, “todo político rouba”, “brasileiro não gosta de ler” e outras
joias desse naipe é cair de cheio nessa vala.
Um pequeno
exemplo?
A certeza
que muitos têm quanto ao tempo absurdo que os adolescentes passam na frente da
televisão. O que diriam se conhecessem uma pesquisa recente nos EUA mostrando
que os adolescentes dedicam em média apenas uma hora de lazer por dia à
TV?
Não que as
estatísticas sejam arautos da verdade, longe de mim dizer isso. Mesmo
considerando que o universo pesquisado tenha sido uma boa amostragem, e que o
cálculo tenha sido feito como manda o figurino, tirando os extremos dos dois
lados - a minoria que passa literalmente o dia todo vendo TV, e a outra que não
vê nada de TV dia nenhum. E mesmo considerando que a internet, os celulares,
Facebook, Orkut, blogs, twitter vieram tirar boa parte da turma da atividade
passiva em frente à TV, é preciso sempre se perguntar: será mesmo verdade?
Porque
outro tipo de pessoa também muito aborrecida é aquela que repousa suas perguntas
e dúvidas na voz da autoridade. Qualquer autoridade. Seja a da estatística
tomada sem contexto, seja a do governo, a da imprensa, a de qualquer um que se
arvore a querer formar o pensamento dos homens comuns.
Há pessoas
que crescem dependendo dessas vozes. Que são autoridades porque estão, no
momento, em lugar de autoridade. Se aparece no jornal, na TV, em um livro, ou se
foi dito por sicrano ou beltrano, só pode ser verdade.
Sem pensar
que os jornais estão cheios de manipulações, meia-verdades, suposições, a TV
mais ainda, e muitos livros, idem: todo o nosso entorno está cheio de tolices,
meias-verdades, mentiras inteiras.
Ou seja:
nem no senso comum, nem nas estatísticas sem contexto, nem na mídia, nem em
qualquer livro que se lê, nem no que alguém fala, ninguém deve acreditar em nada
de olhos fechados.
Claro que
dá, sim, pra confiar em muita coisa e muita gente – o mundo seria infernal se
não desse! - mas sempre guardando um bom lugar para refletir por conta própria.
Aprendendo a pensar com a própria cabeça. Examinando, comparando. Indo atrás dos
fatos. Informando-se melhor. Separando o chamado joio do chamado trigo. Esse
tipo de coisa.
Dá
trabalho? Dá.
É um
esforço danado pensar com a própria cabeça? É.
E
exatamente por isso vemos boa parte da humanidade achando melhor abdicar de usar
sua própria massa cinzenta.
Aaaiii! que
preguiça!, dizem. E vão dormir.
Um romance começa a viver
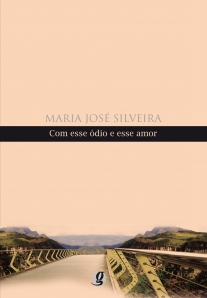 “Com
esse ódio e esse amor”, meu quinto romance, chegou às livrarias esta semana,
pela Editora Global. “Com
esse ódio e esse amor”, meu quinto romance, chegou às livrarias esta semana,
pela Editora Global.
Nele, eu conto duas histórias entrelaçadas: a de uma jovem engenheira brasileira
que está na Colômbia participando da construção de uma ponte e é sequestrada
pela guerrilha das Farc. A outra é a do argumento de um filme que um
cineasta colombiano está fazendo sobre Tupac Amaru, o mítico líder peruano da
primeira grande rebelião pela independência da América Espanhola. O fio que
entrelaça as duas histórias é um amor que não deveria existir.
Assim, o pano de fundo onde os personagens vivem seus conflitos,
amores e dramas é a Colômbia e o Peru.
A Colômbia, eu não conheço. Y dicho sea de paso, não defendo as Farc
pero tampoco las demonizo. O que conto sobre o país e essa guerrilha que
dura cerca de 40 anos veio de pesquisas e de uma conversa de anos com amigos
colombianos.
O Peru, sim, conheço relativamente bem. Morei em Lima quatro anos e lá tive um
filho e publiquei meu primeiro livro (um ensaio de antropologia sobre uma
comunidade camponesa dos Andes peruanos). Qualquer dia volto lá para plantar uma
árvore.
Quanto à questão da linguagem – esse sine qua non da literatura – faço
duas coisas.
Primeiro, uso vozes diferentes para contar as duas histórias.
Segundo, uso um pouco de “portunhol selvagem” que faz tempo vinha querendo usar,
mas só agora achei o momento apropriado.
Por tudo isso, talvez esse tenha sido até agora o romance que mais me deu
trabalho: tanto pelo tema, quanto pela pesquisa e pelo tom.
E agora, já nas livrarias, é o momento do leitor/ leitora, esse desconhecido
parceiro, fazê-lo viver.
Outro dia, li em algum lugar um escritor dizendo que o livro, quando publicado,
começa a morrer. Fiquei espantada com o equívoco, pois tenho certeza de que é
justamente o contrário: publicar é dar ao livro a chance de encontrar o
leitor/leitora para, aí sim, começar a viver. É só quando a imaginação do leitor
encontra a imaginação do escritor que o livro respira.
Sobre isso, uma citação de um cara maravilhoso chamado Thomas Forster cujo livro
“Como ler romances como um professor” acabei de traduzir (e que será publicado
em 2011). Vejam o que ele diz:
“Todo romance precisa ser lido.
Sem isso, ele não
significa nada. Até que ele encontre a mão ou o colo do leitor, um romance é
apenas uma pilha de papel com manchas. O significado
na ficção é o resultado de uma conspiração entre duas mentes e duas imaginações.
Nas aulas de literatura, com frequência falamos como se o escritor fosse
todo-poderoso, mas ele precisa da imaginação do leitor para continuar o negócio.
Se você retirar a sua, a dele fica sem sentido.”
É nesse encontro entre escritor e leitor que o romance verdadeiramente acontece.
Daqui do meu canto, torço para que, a partir de agora, “Com esse ódio e esse
amor” tenha uma longa vida “na mão e no colo” de vocês.
Coisas
básicas
(foto:
Doce Dri)
 Eu, meu caro, sou
um homem solitário.
E não tenho do que me queixar. Eu, meu caro, sou
um homem solitário.
E não tenho do que me queixar.
Minha vidinha é
básica. Tranquila. Eu com minhas coisas. Do jeito que eu gosto.
Chego em casa,
ponho meu Vivaldi, vou pra cozinha e faço uma massinha com pesto. Tenho
uma receita de lamber os dedos, que aprendi quando morei na Itália. Coisa de
deuses. Os italianos são deuses, sabe? A Roma Antiga, aqueles Césares todos. Se
eu pudesse, moraria na Itália. Gente bonita, alegre, espirituosa. Gosto de
alegria por perto, nada de tristezas. Tristeza é contagiante. Quero uma
distância de 100 mil léguas aéreas, terrestres e submarinas de alguém pra baixo.
Então, ouvindo meu Vivaldi, ponho a água pra ferver, pego umas folhinhas de
manjericão e lavo tudo com calma, bem lavadinho, que nessa história de limpeza
sou exigente, e todo cuidado é pouco. Então vou e escorro e seco com o pano de
prato ou com papel-toalha, qualquer um dos dois serve, o importante é que as
folhas fiquem bem sequinhas na quantidade de uma xícara cheia. Pego um dente de
alho e coloco num almofariz de mármore, mais um pouco de sal grosso e uma colher
e meia de pignoli, você sabe o que é? Um tipo de castanha fininha, importada,
própria pra fazer pesto, e é uma coisa que eles também usam muito na
comida árabe, naqueles quibes bem feitos, não desses que a gente come por aí que
eles recheiam só com a carne moída, estou falando do quibe legítimo que tem que
ter um pouquinho de pignoli misturado, mas reconheço que às vezes é difícil
encontrar pignoli por essas bandas porque o pessoal daqui não é lá essas coisas
no quesito culinário fina, mas se não tem pignoli, não adianta improvisar. É
preciso acabar com essa mania brasileira de sempre dar jeitinho com
substituições. Se não tem pignoli, não tem pesto, ponto final. Em matéria de
certos ingredientes sou taxativo mesmo. E daí, com um pilãozinho de madeira em
movimentos rotatórios vou formando uma pasta. Ralo um pouco de queijo
parmeggiano, outro pouco de queijo romano e misturo tudo uniformemente. Depois,
adiciono um pouco de azeite de oliva, e nem preciso dizer, não é?, que tem que
ser azeite virgem importado, de preferência italiano, e adiciono em fio, sabe
como é?, misturando com a colher de pau. Quando estiver tudo bem incorporado,
junto uma colher e meia de manteiga boa já amolecida, até ficar tudo por igual.
A essas alturas a água já ferveu e já joguei o macarrão e quando ele está al
dente, por que isso é sine qua non, uma pasta que passou do ponto, é
melhor esquecer e deixar afogar de vez na panela. Tem gente que acha que é fácil
fazer macarrão mas não é, de jeito nenhum, quem já conviveu com italianos sabe
que é uma ciência, quer dizer, uma arte o macarrão al dente. Mas, então,
e aí está um segredinho pra você, antes de colocar o pesto sobre a massa,
eu o diluo ligeiramente com uma colher de sopa da água quente onde fervi o
macarrão. E ecco! É só servir na mesa posta com elegância, que é outra
coisa básica e não é porque moro sozinho que vou me esquecer da elegância que é
fundamental em tudo, em tudo, qualquer refeição fica mais alegre, mais calorosa,
não é?, com uma mesa posta com seus devidos sine qua non. Então é só
abrir uma garrafinha de vinho, mas vinho importado, evidente, nem é preciso
dizer por que isso é mais do que básico e sine qua non. E então,
cheirinho de comida boa preenchendo o espaço da casa, é arte servida na mesa
para ser deleitada. Sozinho ou acompanhado.
E eu falo
assim, sozinho, mas não é que eu goste mesmo da solidão.
Não é exatamente
uma escolha, um princípio, digamos. Mas é que já aceitei que esse mundão aí não
é pra mim, entende? Só que você.... Você parece diferente. Essas risadas. Essa
alegria. Esse sine qua non. Eu moro aqui perto, sabe? Você quer dar uma
chegadinha pra conhecer minha casa?
Humanos como nós
(foto:Isabel
Fomm de Vasconcellos)
 E
eu que achava que os loucos de rua, aqueles que habitam nossas lembranças de
infância, não existissem mais. Que fizessem parte do cenário já perdido das
cidades onde as ruas E
eu que achava que os loucos de rua, aqueles que habitam nossas lembranças de
infância, não existissem mais. Que fizessem parte do cenário já perdido das
cidades onde as ruas
levantavam poeira, as portas das casas não eram trancadas,
todas as pessoas se conheciam, e o traçado urbano era uma cartografia na mão.
Lamentavelmente, não é bem assim.
De maneira
escamoteada, e talvez mais cruel, eles continuam existindo. Por contraditório
que pareça, às vezes podem ser vistos até na Paulista, a mais famosa avenida da
cidade mais rica do país. A diferença é que não são assíduos, e nem sempre os
mesmos. Hoje é um, depois de algum tempo será outro. Parecem ter escapado de
algum refúgio – o que de fato deve ser o caso. Mas não deixa de ser espantoso
constatar que uma metrópole como São Paulo não consegue abrigar de forma mais
humana seus loucos.
Por razões
incompreensíveis, há temporadas em que eles aparecem mais. Como agora, por
exemplo.
Hoje vi uma
mulher, dedilhando as mãos, apoiada na entrada do metrô. Nada lhe interessava
exceto aqueles dedos, seu obcecado dedilhar sem som. Algumas quadras adiante, um
homem puxava com esforço alguma coisa invisível, gesticulando e falando consigo,
bastante aborrecido. Os dois sujos, maltrapilhos, perdidos em sua noite escura
ainda que o sol brilhasse em um dia muito azul na cidade.
Foi talvez
por esse azul que me lembrei de Sanfona, a louca das férias da minha infância em
Jaraguá. Ela aparecia pelas ruas com a cabeleira solta e saranhada, como um
ninho de pássaros revoltos a lhe coroar a cabeça. Vinha suja, coberta de
molambos, seguida de um bando de moleques que a perseguia a distância, gritando
seu apelido e remedando os gestos de tocar uma sanfona.
Corríamos,
os primos, até o alpendre da casa da minha avó, para vê-la passar com sua
coorte, entre a repulsa e o fascínio pelo espetáculo que não compreendíamos bem.
Gritávamos, alguns, unindo a crueldade infantil ao coro dos moleques, enquanto
outros ficavam mudos – não sei, suponho, exercitando a compaixão (como sabemos,
crianças conhecem os dois, crueldade e compaixão.)
Quem ela
era, de onde vinha, porque ficou assim, nunca soubemos. Mas talvez cada um
tivesse sua ideia. Eu, por exemplo, imaginava para Sanfona um tremendo drama de
amor. A meus olhos, ela teria sido bonita antes. Muito bonita até. Teria se
apaixonado por um coronel da região, alimentado ilusões, até um dia ser jogada
na lama, escorraçada por ele, chicote na mão.
Sanfona
poderia ter ficado louca por amor. A mulher que dedilha os dedos na Paulista
poderia ter sido uma ilustre pianista. O puxador mal-humorado de coisas
invisíveis, um arrependido arrastando remorsos.
O fato é
que os loucos têm, todos, suas histórias, humanos que são, como nós. Histórias
que nunca saberemos, ao vê-los passar seu drama pelas ruas da pequena cidade de
ontem, e das grandes cidades de hoje.
(Texto
publicado por primeira vez no jornal “O Popular”)
FILHO E PAI
(foto:Isabel Fomm de Vasconcellos, 1984)
 Chegamos,
pai. O filho diz e faz uma pausa. Chegamos,
pai. O filho diz e faz uma pausa.
Tem sido
assim a conversa entre os dois. Longa, suave, e pausada. Cada um mergulhando na
vastidão de si mesmo, e usando as frases como para respirar.
Chegar...
que palavra bonita, pai.
Ah,
filho... é que você é poeta.
Tinham
acabado de sentar na varanda da fazenda.
Isso não é
poesia, pai.
O velho deu
um suspiro alto e fundo. Acendeu um cigarro.
A viagem
tinha sido exaustiva. Foram forçados a parar demasiadas vezes para atender à
doença exigente. Houve, no entanto, os momentos em que puderam, de alguma forma,
curtir a viagem, cada um a seu modo.
O filho,
50 e poucos anos, revendo a paisagem que deixara há tantos anos. Pensou
reconhecer alguns trechos da mata, intangíveis. Algumas árvores. A ponte e o rio
barrento. O cheiro doce da terra úmida.
O pai, 70 e
tantos, recordando quando passou por ali pela primeira vez com o filho meninote.
Filho com medo de boi, onde já se viu! Deu-lhe um cascudo, é verdade. No menino
franzino, filho único, mimado pela avó e pela mãe. Não lhe deu gosto nas terras,
mas deu nos estudos. Médico jovem, brilhando longe. Mesmo quando casou, não
pensou em voltar. A mulher atriz. Não quiseram filhos. E ele acabou outra vez
só. Poderia ter casado de novo, não quis.
Gostava da
noite. Esposa, medicina e noite – diagnóstico fácil, pai: impossível dar certo,
o filho disse depois que descansaram, comeram alguma coisa e se sentaram outra
vez na varanda. Para agüentar, só mesmo a poesia.
Uma benção
sua mãe poder ver seu primeiro livro, filho. Lia um poema e chorava. Até mais,
eu acho, ou tanto quanto no dia que você recebeu seu anel de médico.
Boa mãe, a
minha – disse o filho.
Boa esposa,
a minha – disse o pai.
Cada um, a
seu modo, lembrando do mesmo passado.
O senhor me
deu uns bons cascudos na infância, hein, pai?, o filho riu.
Ah, se
dei!, o pai desconversou.
O silêncio
envolve o reencontro dos dois, as frases surgindo como borbulhas em um rio
manso.
Eu já tinha
me esquecido das noites daqui. Essas estrelas. Os ruídos do campo, a brisa, essa
fagulha do cigarro.
Foi por
isso que você quis voltar?
Não sei,
pai. Difícil entender.
Minha vida,
afinal, foi toda fora. Meus amigos ficaram lá.
Você não
ter feito uma família, isso conta, filho.
Melhor
assim, talvez. Médico vê tanta coisa, pai. E quando ela chega, é só você e ela.
Ninguém mais.
O friozinho
da noite penetra fundo por sua roupa fina, urbana.
Depois de
um tempo, ele se levanta e diz, Obrigado, pai.
Descanse,
filho, o pai responde, e continua sentado na varanda, enquanto a noite segue.
Fechando o que tinha de fechar, deixando que a luz da manhã abrisse o que tinha
que abrir.
De manhã, o
pai acorda para o remédio do filho.
Não
precisava mais.
(Publicado por
primeira vez em “O Popular”
O
leite antes de derramar
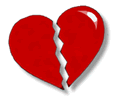 Tenho uma coisa pra te contar,
amor – e seu sorriso ao abraçá-la se abre como um leque. Há mais de meia hora
estava ali sentado na mureta, esperando. Elétrico, exultante, os gestos agora
abraçando a amada, a rua toda, o mundo. A vida com ela, que de imediato diz, Eu
também tenho uma coisa pra te contar, Beto Tenho uma coisa pra te contar,
amor – e seu sorriso ao abraçá-la se abre como um leque. Há mais de meia hora
estava ali sentado na mureta, esperando. Elétrico, exultante, os gestos agora
abraçando a amada, a rua toda, o mundo. A vida com ela, que de imediato diz, Eu
também tenho uma coisa pra te contar, Beto
Seu rosto não sorri, inexpressivo,
mas ele não percebe.
A minha deve ser melhor, Leninha –
ele continua, efervescente. – Consegui o emprego! Entre aquele monte de
candidatos, a vaga é minha! Vai mudar nossa vida, querida. Já conversei com o
gerente, o pessoal da contratação, amanhã é só levar os papéis. Sei quanto vou
ganhar e tudo. A empresa é cheia de mordomias. Carteira assinada, férias, 13o,
tudo certinho. E seguro saúde, amor! Já fiz as contas todas, enquanto estava
aqui esperando. Vou ter que dar a
metade do salário pra mãe, mas já esquematizei tudo, não se preocupe. Com a
outra metade, tiro um tanto e abro uma poupança. Depois, quando ganhar um
aumento –
uma empresa dessas dá aumento conforme o funcionário e você sabe o quanto sou
esforçado –
vou aumentando a parte da poupança. No final do semestre, vai dar pra comprar
aquele fusca do Ednor. Tenho certeza que ele acerta isso comigo. Já me disse que
não precisa do dinheiro agora, só mais pro final do ano, quando for se mudar.
Então, quando eu tiver outro aumento, continuo botando tudo na poupança. Os
extras também vou botando na poupança, tudo. Dependendo, acho que dá pra fazer
uma boa grana com os extras. Essas empresas vivem precisando de serviço a mais.
Então, daqui a pouco mais de um ano, já vou ter o suficiente pra alugar uma casa
pra nós. A mãe fica na dela, podemos até tentar alugar uma casa perto, não sei,
isso a gente vê depois, e ela vai ter que entender. Com os extras, vamos
comprando os móveis a prestação, tudo de boa qualidade, muito bem escolhido como
você gosta. E então, daqui a um ano e meio, no máximo dois ... amor, você casa
comigo?
Leninha olha pra ele e mal consegue dizer
– Você devia ter
me deixado contar primeiro, Beto.
E só agora ele olha de fato para o rosto a sua frente, e o vê.
O rosto sério, narinas trêmulas, um tique que ela tem quando está
nervosa, e a torna tão vulnerável, e o faz sentir que é seu dever proteger
aquela fragilidade –
nunca, nada, ele nunca deixará nada de ruim acontecer com ela.
O que foi, amor? Algum problema?
Não... É só que preciso te falar. Queria te falar faz tempo, mas não
tive coragem. Hoje me prometi que falaria de qualquer jeito.
Ela faz uma pausa, olha pro chão, como se para certificar que havia
um chão ali embaixo.
Eu estou gostando de outra pessoa, Beto.
(Publicado por primeira vez em “O Popular”)
mariajosepeixotodasilveira@gmail.com
www.mariajosesilveira.wordpress.com
A
boa vida dos chimpanzés

Não sei se vocês já ouviram falar de “rizartrose do polegar”.
Tomara que não, pois é do tipo de problema que só se conhece quando você – ou
alguém perto - passa a ter: uma inflamação da articulação na base do polegar. O
nome vem de riz, arroz em francês, porque a base do polegar começa a
juntar uns grãos nesse formato. Essa articulação – batizada de
trapezo-metacarpiana – é a que proporciona ao polegar o grande raio de
movimentos que, imagino, deve ter sido o que o fez nos diferenciar de nossos
ancestrais menos hábeis, os chamados (talvez, injustamente) chimpanzés.
Ainda bem que em nosso milênio, com a evolução nesse sentido já
feita e consolidada (salvo as inúmeras exceções!), a importância desse polegar
já não parece tão definitiva. Caso contrário, eu receava entrar em franco
processo de in-volução. Pois não é que fui arranjar esse problema logo na
articulação do polegar direito?
Horrorizada, corri para uma “Oficina da Mão”, indicada pelo
ortopedista. Fui com um receio danado de perder minha humanidade (entre outras
coisas), e ser proibida de digitar.
Na sala das fisioterapeutas havia uma longa mesa onde dois outros
pacientes, com outros problemas, eram atendidos ao mesmo tempo. Do meu lado
esquerdo, um pianista colocava “anéis” de suporte para o dedo indicador, na
esperança de poder praticar as Bachianas para um concerto já programado. Do lado
direito, um cirurgião plástico encomendava um suporte especial para as duas
mãos, na esperança de ainda poder consertar narizes e modelar bocas de sabemos
quem. Frente a eles, meu polegar pareceu tão irrisório que quase me despedi e
voltei pra casa.
Ainda bem que fiquei.
Porque tive duas boas notícias: a rizartrose não interfere nem com
meu ser pensante nem com o ato de escrever. E, segundo: o que devo evitar –
vejam só a predestinação! – é o movimento de, por exemplo, pegar na vassoura,
passar roupa, guardar as compras, lavar louças, carregar panelas de arroz. (Daí,
talvez, o tal nome francês.)
Pra quem estava esperando terminar em uma floresta escura, densa e
fria, essa ida à fisioterapeuta iluminou o dia. Voltei para casa aliviada e
postei essa historinha no meu blog.
Qual não foi minha surpresa – ingênua que sou, – quando comecei a
receber uma avalanche de e.meios de mulheres mas, sobretudo, de homens – afinal,
a evolução é uma lei ainda não revogada, e os exemplares masculinos da espécie,
embora relutantemente, já aprenderam a usar o polegar para manejar panelas.
Queriam todos a receita, não do remédio, mas de como provocar essa desculpa
perfeita para poderem se refestelar no sofá e ver todos os jogos da Copa, tendo
a cerveja colocada atenciosamente a seu lado.
mariajosesilveira.wordpress.com
(Publicado pela primeira vez em “O Popular”)
Dois homens no ar, e uma questão
Maria José Silveira
 Duas
proezas. Duas
proezas.
Uma de
beleza única, puro deslumbramento.
A outra,
ainda estou na dúvida.
 A
primeira parou várias ruas de Nova York, numa manhã do verão de 1974. A
primeira parou várias ruas de Nova York, numa manhã do verão de 1974.
Philippe
Petit, jovem equilibrista francês, invadiu uma das torres do World Trade Center,
então recém construídas. No alto do edifício de 110 andares (110, senhores!),
ele passou um cabo de aço de uma torre a outra, com ajuda de uma flecha, e
começou a andar por essa corda bamba, no vácuo de 400 metros e uma extensão de
43 – a distância entre as Torres Gêmeas.
Por 45
minutos (45, senhores!), ele foi rei naquele pedaço do ar. Andou de um lado pro
outro, correu, se balançou, sentou, deitou no cabo e, no final, se ajoelhou para
se despedir da multidão de pescoço erguido e respiração entrecortada lá embaixo.
Foi um ato de uma beleza tão ímpar que até hoje continua maravilhando. Um ato
que aponta para possibilidades impensáveis da capacidade e coragem humanas, e
nos deixa – a nós aqui embaixo – só de pensar, sem fôlego. Livros e filmes foram
escritos a respeito, e um documentário, “O Equilibrista”, está disponível em
DVD.
Como se não
bastasse tudo isso, um toque significativo no final. Mesmo frente à emoção de
todos, o espírito americano da praticidade não se deixou abater: os policiais
imediatamente o prenderam por invasão de propriedade privada e exposição a
risco, e os repórteres só queriam saber: “Por quê? Por quê? ” Ao que o jovem,
parecendo mais aturdido com a pergunta do que com o que tinha acabado de
realizar, respondeu: “O espaço estava lá, e eu atravessei.”
 A
segunda proeza aconteceu maio passado, na Virada Cultural, em São Paulo.
A
segunda proeza aconteceu maio passado, na Virada Cultural, em São Paulo.
Um
pianista, um banquinho e um piano foram suspensos por cabos de aço, presos a uma
plataforma. Do ar, o som de Chopin, caiu e envolveu o publico abaixo. O pianista
era Ricardo Peres, de carreira internacional, várias gravações e prestígio. Um
artista também jovem, acostumado a se apresentar em shows como esse, com a
intenção de democratizar a música clássica, aproximando-a do cidadão comum.
Quem viu,
delirou, e muitos consideraram a melhor coisa da Virada Cultural deste ano.
Portanto, para o que o “pianista voador” se propôs a fazer, a proeza deu muito
certo. E todos nós, favoráveis à democratização do acesso à cultura, não
poderíamos deixar de aplaudir.
A minha
questão, no entanto, tem relação com a estética da coisa. E nesse aspecto, tendo
a achar que, se a proeza do equilibrista foi de uma beleza perfeita, a do
pianista foi - eu diria - quase bizarra.
Em uma, a
altura inimaginável da corda bamba e a beleza gratuita do equilíbrio e da emoção
vertiginosa de quem enfrenta e vence um abismo.
Em outra, o
piano suspenso e a intenção da emoção provocada pelo deslocamento inusitado, e
quase fútil (perdão, Ricardo Peres), do espaço. No chão, a execução da música
como tal, provavelmente seria tão ou mais bonita do que foi no ar.
Ou não?
O que você
acha?
(Publicado
por primeira vez em “O Popular”)
Dona Maria Mioko
Oi, mãe. Estava dando só ocupado, fiquei preocupado. Depois do que aconteceu.
Cuidado pra abrir a porta, hein? Olha primeiro pelo visor. É pra isso que ele
serve. Se a senhora não se acostumar, vai ser dinheiro jogado fora. E ninguém
tem dinheiro pra jogar fora, mãe. Sei, a senhora sempre olhou pela fresta da
janela, e eu não te conheço? Mas não é a mesma coisa. Os tempos são outros.
Depois do que aconteceu com a vizinha da frente, a Dona Maria Mioko. Eu me
lembro, sim, dela e do marido. Dos passarinhos que ele criava. E do barulhão até
bonito que eles faziam. Ela soltou tudo depois que o marido morreu? Não
suportava? A vida inteira o marido criando a passarinhada, e ela não suportava?
Aquele homem era esquisito mesmo, mãe, a molecada da rua tinha medo dele. Diziam
que ele esteve na guerra, a senhora lembra? Tinha uns números no braço, e mal
falava o português. Morava no Brasil há tantos anos e não falava quase nada. E a
dona Maria Mioko, toda pequenina ao lado dele, também sem falar quase nada. Nem
com a senhora ela conversava muito, não é? E lembro que tinham uma filha que o
pai não deixava brincar com ninguém. Então ela abriu as gaiolas, mãe? No mesmo
dia da morte dele? A senhora tem razão, aquela mulher deve ter sofrido muito, a
vida inteira. Daquele jeito encurvadinho como ela andava, a senhora tem razão.
Mas não é tristeza que dá isso, mãe, é osteoporose. E não, mãe. Não foi de
tristeza que ela morreu, foi de assalto mesmo. Não roubaram muita coisa, eu sei,
só o dinheiro da bolsa e as jóias. Isso é ladrão pé-rapado que rouba pra comprar
droga, mãe. Ladrão grande rouba móveis e eletrônicos e faz as coisas de um jeito
que ninguém vê. Ladrão pé-rapado faz de qualquer jeito. E quando a polícia
chegou, ela já estava morta. Sei que foi de enfarte, mãe, mas não é tristeza que
dá enfarte. É susto. Medo. Sozinha em casa, imagina o susto. Por isso é que eu
digo, a senhora precisa de alguém morando aí. Claro que a senhora está ótima e
não precisa de nada, dona Iara. Claro que a senhora tem uma saúde de ferro e
cabeça excelente. Sua cabeça é melhor que a minha, mãe, rá,rá. A senhora pode
ser velha mas não é boba, sei disso muito bem, dona Iara. Rá, rá. Mas cabeça boa
ou não é preciso tomar cuidado. O mundo está maluco, mãe. Nada de abrir a porta
pra desconhecido, viu? O visor existe pra isso. Como assim? Foi pra conhecido
que ela abriu? A senhora viu? A senhora estava olhando pela fresta da janela e
viu? Não falou nada pra polícia? Sei que a senhora não gosta de polícia, mas não
é possível, mãe! A senhora tem certeza? Sei, claro, a senhora nunca inventou
nada de ninguém. Nada que não tivesse visto com seus próprios olhos. Mesmo
assim. Que coisa. O neto dela, mãe?
mariajosepeixotodasilveira@gmail.com
O
olhar que guarda o tempo
(anotações
sobre fotos de Nair Benedicto)
 Nair Benedicto, fotógrafa reconhecida e premiada, está expondo, no Centro Cultural
Vergueiro, São Paulo, algumas fotos especialmente escolhidas para compor um
apanhado de nossa época: a década de 70 aos dias de hoje. Nair Benedicto, fotógrafa reconhecida e premiada, está expondo, no Centro Cultural
Vergueiro, São Paulo, algumas fotos especialmente escolhidas para compor um
apanhado de nossa época: a década de 70 aos dias de hoje.
Quando
falamos de uma época, estamos falando da passagem do tempo.
No caso das
fotos de Nair Benedicto, a época dela é a nossa. Esse tempo que está passando.
Esse que estamos vivendo.
Com suas
imagens, ela nos dá uma síntese de muitas das questões que tem sido cruciais
nesses anos: mulheres, crianças, trabalhadores, trabalhadoras, índios, política
na rua, família, sexo, menores, cidades, cidadãos.
Olhando
aquelas fotos, aquela beleza toda, aquela tristeza, aquela alegria, aquele
vigor, pensei: como é generoso o ofício do fotógrafo. Sem suas fotos como
faríamos para guardar as imagens do tempo?
Para Nair,
“o ser humano é o ponto da questão”.
É ele que
se ilumina em suas fotos, com toda sua complexa diversidade.
No vídeo –
também exibido na exposição – sua fala complementa as fotos, nos mostra de quem
é o olhar vital que estamos compartilhando.
Nele, ela
fala um pouco de suas relações familiares. De suas preocupações. Sua vida. Fala
também com os olhos, as mãos, os cabelos brancos repicados bem curtos.
Ali está a
mulher que ela é. Sem subterfúgios.
Uma pessoa
tão incomum quanto suas fotos.
Uma pessoa
capaz de fazer sua uma frase de Clarice Lispector que acompanha a exposição:
“Liberdade para mim é muito pouco. O que eu quero ainda não tem nome.”
Nair diz no vídeo:
“A
fotografia é um passaporte para relacionamentos – através dela você quase chega
à alma humana.”
Como todo
passaporte, ele é de ida e volta: o fotógrafo entra em um lugar – uma casa, uma
festa, uma alma - e traz registrado o que encontrou, para mostrar a quem ficou
de fora.
Então,
pergunto a ela:
- Sua
relação, como fotógrafa, é apenas com o momento que fotografa? Ou é também uma
relação com o observador (nós aqui de fora) cujo olhar cairá sobre a foto que
você tirou?
Resposta:
“Para mim,
compartilhar é inerente a fotografar, portanto, o observador faz parte do ato.
Aquilo que você está “selecionando” no meio de tantas informações e
decodificações possíveis você deseja dividir esse olhar com o outro....
envolvê-lo.“
Com seu
recorte de fotógrafa, ela interrompe o tempo que flui, e registra um momento
possível entre vários outros momentos também possíveis. Imagino que essa escolha
é quase instintiva, e deve ser quase a marca de um fotógrafo. Ver o instante que
deve ficar guardado.
- Você já
sabe disso ao dar o clique ou isso só é percebido quando a foto é revelada? Ou
seja: em que momento você fica mais feliz? – pergunto.
- Quando
descubro uma imagem especial, já sei na hora do clique – ela responde. - Às
vezes é melhor ainda quando “revelada”. Outras, é pior.... Mas banal ela não é
nunca. Sempre que posso, gosto de deixar um pouco de espaço entre o clique e a
“revelação”, pois esse descompasso entre os dois atos me incomoda. Quando a foto
pode “descansar” um pouco ela volta com toda sua carga de emoções, sonoridade,
ela volta incorporada.
Nair conta
a história de uma das fotos: a de um travesti visto pela janela de um carro.
Está ali o movimento da sedução maliciosa e sorridente que se oferece mostrando
a calcinha na noite.
No final de
um trabalho para uma reportagem sobre travestis, já de volta ao carro, exausta,
Nair olha para fora e “vê” a foto que deveria ter tirado: como o travesti é
visto, pela janela do carro, por quem passa por ali para contratá-lo.
Essa foi a
imagem especial que ficou no clique.
Não
perguntei, mas com certeza essa foto deve ser uma das suas muitas fotos que hoje
estão espalhadas por vários museus do mundo.
Como no
MoMA onde, entre outras, está a foto com o título “Tesão”, um dos seus primeiros
trabalhos solo, um casal dançando num forró. O momento de volúpia dos dois: o
homem que beija o pescoço oferecido da mulher.
É curioso o
poder de uma foto: sua imagem é apenas um instante mas o instante de uma
história complexa e verdadeira da qual ela nos oferece ali apenas uma parte. A
melhor parte, talvez, a mais rica – mas de qualquer maneira apenas uma parte.
Daí o mundo de coisas que uma foto pode nos oferecer. Daí porque nos faz pensar
tanto.
O olhar do
fotógrafo está ali para ser olhado também por nós.
Olhar pode
significar apenas ver – o que, a rigor, já é muito. Mas pode significar também
compreender. E compreender é saber do que aquele instante faz parte.
Dá vontade
de falar de cada uma das fotos da exposição.
Ou
perguntar a Nair a história por trás de cada uma delas.
Só mais
uma:
Crianças
com rostos cobertos por rústicas máscaras de papelão. Estão em volta de uma
mesinha com cocaína, no centro de São Paulo em 1991.
A máscara
que cobre o rosto do pequeno no primeiro plano deixa ver seus olhos de bichinho
acuado.
Tem muita
tristeza nos olhos dos menores fotografados por Nair.
Tem muita
tristeza nos olhos das crianças de nossa época.
Claro, tem
também crianças de olhos felizes. Lindas crianças de todo feitio e cores e
classes sociais.
Crianças que começam a viver sua época na nossa. E tem o tempo à sua frente.
Crianças
que tiveram o sonho em seus olhos guardados pelas lentes de Nair.
Uma das
grandes entre os fotógrafos brasileiros contemporâneos.
Este é um
pequeno trecho do livro “A mãe da mãe de sua mãe e suas filhas”, de Maria José
Silveira.
Tebereté e Jean-Maurice
(Estamos nos anos da Descoberta do Brasil. Tebereté é uma índia
tupinambá encarregada de cuidar do cativo Jean-Maurice, um soldado francês.)
“Nos dois meses que durou o cativeiro de Jean Maurice, a jovem índia foi
perfeita. Alimentava-o várias vezes por dia, banhava-o no rio e, com todo o
cuidado do mundo e muitas ervas analgésicas, arrancou todos os seus pêlos para
deixá-lo liso e macio. Depois, como se fosse um pedido de desculpas pelo
sofrimento que lhe causava, untava seu corpo de mel, embalava-o dia e noite na
rede e, claro, transava com ele quantas vezes desse. E cantava e dançava só para
ele e lhe ensinava jogos e palavras, penteava seus cabelos castanhos,
enfeitava-o com penas e adornos e acariciava-o gentil e amorosa, ainda que com
detalhada atenção para sentir em que pé estava o efeito de seu trabalho, a
formação rápida das gordurinhas nos pontos desejados. Não o deixava nem por um
minuto, atenta, carinhosa, tão habilidosa que efetivamente conseguia afastar a
melancolia do rapaz, que, sem conhecer o ritual nativo, começara a acreditar em
algum tipo de boa sorte.
Jean-Maurice só se sentia incomodado quando grupos de velhas barulhentas e
agitadas cercavam sua rede e beliscavam sua bunda e suas coxas, estalando o céu
da boca, ruíii!, ruíii! Riam muito e gritavam esganiçadas naquela língua
impossível dos selvagens, obrigando-o a dizer as palavras que Tebereté lhe
ensinara, mas cujo significado ele não entendia completamente: “Vejam como estou
ficando gordo e gostoso para ser vossa comida!”
Quando demorava ou não queria dizer sua fala, Tebereté o repreendia de olhar
duro.
À noite, se vizinhos de outras tribos apareciam na aldeia ou se todos se reuniam
para beber cauim e dançar, ele era levado ao centro do terreiro e lá exibido,
inspecionado, cheirado, beliscado. Logo o faziam pular e repetir ad nauseam
as palavras decoradas, “Sou vossa comida! Vejam como estou engordando!”,
enquanto todos riam e dançavam barulhentos a seu redor, parecendo se divertir a
valer. Se fizesse alguma coisa errada ou demorasse a dizer sua parte, Tebereté o
repreendia, brava.
Quando por fim chegou o dia em que decidiram comê-lo, Tebereté foi especialmente
caprichosa. À noite, sossegada, transou com ele na rede, várias vezes, mas não
tanto a ponto de deixá-lo esgotado. Ao amanhecer, levou-o ao rio e lhe deu um
banho especial, com muitas ervas perfumadas, e depois untou lentamente todo o
grande corpo dele com mel de flores silvestres. Mas já nesse momento, para
espanto de Jean-Maurice, que a puxou como normalmente puxava quando sentia seu
membro ereto depois de tanta esfregação, Tebereté recusou, brava, e bateu forte
nas mãos dele. Surpreso com a recusa, o cativo sentiu-se ofendido e emburrou,
sem adivinhar ainda o tamanho da sua tragédia.
Com gosto, Tebereté penteou pela última vez os cabelos dele e o adornou com
diferentes colares que confeccionara especialmente para a ocasião. Depois,
colocando uma corda ritual em sua cintura, levou-o até o centro do terreiro,
cercada pelo berreiro das mulheres e das crianças que se aproximavam. Ali a
tribo em peso estava reunida com convidados, todos pintados de maneira que ele
não vira ainda e em poses que lhe pareceram diferentes.
Foi então, pela primeira vez, que Jean-Maurice pressentiu que chegara seu dia de
virar banquete.
Sua primeira reação foi tentar se desvencilhar e fugir mas, ao constatar como
estava cercado, olhar para Tebereté e ver seu ar de repreensão, decidiu
controlar seu instinto de fuga e seu medo. Afinal, também era um guerreiro, e
corajoso, homem de trato natural com a morte e, já que não havia mesmo uma
saída, melhor seria tentar morrer como herói para dar esse último gosto à menina
índia que lhe tratara como ninguém jamais o fizera antes.
E assim, quando a dança hipnotizante se intensificou sob o efeito do cauim e o
guerreiro executor, qual pássaro selvagem de várias cores, dançava alucinado ao
seu redor levantando a grande clava e gritando as frases rituais, Jean-Maurice
respondeu com as palavras decoradas que Tebereté lhe ensinara. E tão concentrado
estava em morrer bem que nem viu quando a clava foi enterrada em sua cabeça e
caiu de bruços sem um ai!, num augúrio de bons tempos para todos os que estavam
ali para comê-lo.
Aos gritos, as velhas desdentadas que não poderiam mastigar a carne correram
para beber o sangue ainda quente, estalando o céu da boca, ruíi! ruíi!
Iam também recolhendo a massa encefálica, para que nada se perdesse.
Tebereté se ajoelhou ao lado do seu cativo sem vida e chorou rapidamente o
pequeno choro ritual antes de besuntar o seio com o sangue para que o filho que
já crescia em seu ventre experimentasse desde cedo o gosto do sangue do inimigo.
Imediatamente deram início aos trabalhos: um bastão foi enfiado no ânus do
cadáver para evitar que expelisse os excrementos, depois escaldaram-no com água
fervente para retirar sua pele e o esquartejaram para assar e moquear as partes.
A gordura que pingava era recolhida num vasilhame para depois ser usada no
mingau.
Jean-Maurice, sem dúvida, pelo tamanho e boa carne, proporcionou um belo
banquete que varou a noite. De manhãzinha, Tebereté, de barriga cheia e
satisfeita por ter executado sua tarefa com tão deliciosos resultados, ainda
roía um ossinho do nariz do herói branco, o pai da filha que se agitava em sua
barriga.
Agora, vejam
como é interessante o desenvolvimento da ciência. Os antropólogos e os
historiadores sempre consideraram que a antropofagia dos primeiros indígenas
brasileiros tinha apenas função simbólica e mágica: ao comer o inimigo, o
vencedor se apropriava de suas qualidades, e perpetuava o desejo de vingança de
toda a tribo, através do ritual coletivo. Hoje, no entanto, arqueólogos e
pesquisadores sustentam que o canibalismo também cumpria uma função nutritiva:
em um momento de crescimento demográfico e escassez, a carne dos inimigos
fornecia proteínas aos vencedores. É claro que essa interpretação pode estar
influenciada pelo viés da excessiva preocupação nutricionista que assola os
tempos modernos, mas vários argumentos parecem provar essa tese, entre eles o
fato de os nativos apreciarem tanto a carne humana, como sem dúvida era o caso
da gulosa Tebereté.
 Depois da morte de Jean-Maurice, Tebereté foi tomada como esposa por Poatã, o
guerreiro das mãos fortes, um herói da tribo. E quando a filha nasceu, a filha
que já estava em seu ventre, a filha de Jean-Maurice, o heróico inimigo, foi o
pajé que escolheu seu nome. Depois da morte de Jean-Maurice, Tebereté foi tomada como esposa por Poatã, o
guerreiro das mãos fortes, um herói da tribo. E quando a filha nasceu, a filha
que já estava em seu ventre, a filha de Jean-Maurice, o heróico inimigo, foi o
pajé que escolheu seu nome.
Escolheu Sahy, a água dos olhos, a lágrima.
Pois alguma coisa ruim começara a acontecer à tribo.
De alguma forma não detectável, insidiosa, uma nuvem pairava sobre eles. A
alegria natural da vida parecia contaminada. Uma nódoa manchava o ar luminoso
que trazia agora uma ponta incrustada de ameaças.
Os pajés, no interior de suas pequenas cabanas escuras, refletiam inquietos,
perturbados, ansiosos, sem conseguir ver nem compreender, mas pressentindo,
intuindo, algum horror que se aproximava.
Mas qual? Onde estaria? O que lhes estava reservado?
Eles dançavam, incansáveis, suas danças cerimoniais, tocavam os maracás dos
deuses, aspirando o fumo quente de folhas secas que saía pelos olhos, pelas
bocas e pelos ouvidos das cabaças sagradas em forma de cabeça, e queimavam mais
folhas secas, e fumavam mais e mais, pedindo, suplicando, implorando aos
espíritos protetores a explicação que não vinha.
Algo estava se corrompendo, um mal crescia, mas o quê? Onde?
Os
pajés dormiam entorpecidos e sonhavam sonhos agitados, nebulosos, cheios de
escuridão. Tampouco em sonhos os espíritos lhes traziam respostas, nem bálsamos,
nem serenidade.
...
(A continuação
desta história está no livro “A mãe da mãe de sua mãe e suas filhas”, de Maria
José Silveira, publicado pela Ed. Globo)
Bom
dia!
 A
velha de
cabelos brancos e bengala sorri ao passar por quem caminha pela super-quadra
àquela hora. Rosto enrugado, uma grande verruga marrom perto da sobrancelha
esquerda. Saia estampada de algodão abaixo do joelho, blusa branca de gola,
muito bem passada, sapatos pretos meio gastos mas bem limpos. Pelas roupas, o
jeito e o bom-dia afável vê-se que não é dali, super-quadra nobre de árvores
frondosas. A
velha de
cabelos brancos e bengala sorri ao passar por quem caminha pela super-quadra
àquela hora. Rosto enrugado, uma grande verruga marrom perto da sobrancelha
esquerda. Saia estampada de algodão abaixo do joelho, blusa branca de gola,
muito bem passada, sapatos pretos meio gastos mas bem limpos. Pelas roupas, o
jeito e o bom-dia afável vê-se que não é dali, super-quadra nobre de árvores
frondosas.
Bom dia!
Todos que
passava por ela recebem o cumprimento educado. O neto virá buscá-la hoje. Vai
levá-la para dar uma volta de carro pela cidade. A cidade branca-verde do verão
de chuvas que ela viu de longe pela janela da van. Cidade que a bem dizer nem
pode afirmar que conhece mais.
Bom dia!
Há muito
tempo não passeia de carro por Brasília. No começo, sim, de caminhão, quando
morava nas obras com o marido, passeava muito pelo descampado todo. Ali onde aos
poucos viu tantos prédios nascendo, as super-quadras, o lago, toda a cidade. Mas
desde que foi morar em - onde mesmo que ela mora agora? Não importa. Desde que
foi morar longe, não passa mais por lugar nenhum. Já nem bem pode dizer que
conhece o Plano Piloto, tão mudado ele ficou. A Esplanada dos Ministérios, perto
de onde morou naqueles primeiros tempos, agora ela só vê pela televisão.
Bom
dia!
Hoje o neto
prometeu levá-la. Manhã de domingo, sem trânsito, pouca gente nas ruas, folga no
emprego dele. Ela espera.
Bom dia!
Mas a
enfermeira que chega não está nada disposta a responder a seu bom dia pela
terceira ou quarta vez.
Que
canseira a senhora me dá todo domingo, dona Isaura. Outra vez esperando seu
neto? Que mania de fugir da igreja! Nada de missa pra senhora no próximo
domingo. Vai ficar na casa com as outras de castigo.
Fim
O
DIA DO POBRE JUAREZ
Era como se estivesse em uma jaula, aquele dia. A esposa no hospital, no
escritório a demissão do pobre do Gil, a discussão com o gerente e ele tendo que
entregar os cálculos do projeto ao meio-dia. A voz fininha do gerente avisando
para não atrasar. Em hipótese alguma, disse. Em hipótese alguma, repetiu. Dessa
vez não haverá a menor chance de aceitar qualquer tipo de desculpa. Mas o
pensamento que o atormentara a noite toda, e lhe dera essa sensação de que não
conseguira dormir nem 10 minutos seguidos, a cabeça estalando, foi a imagem
daqueles três - Lucinda, Alfredo e Dorival - cochichando no corredor e parando a
conversa ao vê-lo seguir para o elevador. Estavam falando dele, não tinha a
menor dúvida sobre isso. Claro, seria o próximo na lista dos cortes. Lucinda era
amiga de infância da mulher do chefe, e era competente, não dava pra negar esse
fato. Alfredo era a estrela do escritório, o dodói dos clientes, sempre
recebendo elogios. E o Dorival... bem aquele imbecil, aquele débil mental,
aquele crápula, era o maior bajulador da paróquia, e lamberia o que fosse
preciso de quem quer que fosse preciso pra ficar fora do contágio das demissões.
Entregaria qualquer colega, intrigaria, faria o diabo caso se sentisse ameaçado.
Juarez não tinha provas, mas sabia sem a menor sombra de dúvidas que fora ele
quem armara aquela armadilha pro Gilberto. Era evidente. Só ele lucraria com a
saída do pobre. Logo o Gil, um sujeito boa praça, e que fazia todos os cálculos
melhor do que ninguém. Imagine, o Gil, logo o Gil, fazer um erro daqueles!! Tava
na cara que fora armação. Ou o Dorival lhe passou os dados errados, ou foi lá e
mexeu no computador. Eu vi quando ele disse que ia ficar até mais tarde no
escritório, que tinha serviço pra fazer, o que eu soube na hora que era mentira
porque ele passou o dia inteiro coçando o saco, o imbecil, eu vi, e depois o
escritório todo estava numa fase parada com pouco serviço, que coisa era essa
que ele tinha que ficar até tarde pra fazer? Mexer no computador do Gil, é
evidente. O crápula. Só depois, quando o caso estourou, foi que me dei conta mas
não pude falar nada porque não tinha prova e também não gosto de me meter na
vida dos outros, como não gosto que se metam na minha. Mas que foi ele foi. Eu
devia ter contado na época, talvez tivesse uma maneira de provar isso. Devia,
claro. Mas como eu iria adivinhar que ia dar aquele rolo desgraçado e tudo, e
não, foi melhor eu não ter me envolvido mesmo. Essas coisas, a gente-
Juarez! - pronto, lá vem a voz fanhosa da minha sogra zoando na minha cabeça -
Você deixa o bebê na creche, no caminho pro trabalho? Sulamita vai fazer aquele
exame complicado e me pediu pra chegar cedo no hospital.
Pelo amor de Deus! O que essa velha tá fazendo aqui se não dá pra ajudar
direito?
Eu tô saindo, dona Otília.
Vou já colocar o moisés e a cesta no banco de trás. É só entrar no carro que ele
dorme o tempo todo, não vai te incomodar.
Merda!
Merda!
Que dia meu Deus! Só espero que o trânsito não esteja infernal.
A reunião do meio-dia não vai ser fácil. Ainda bem que deu pra terminar os
cálculos ontem à noite, mas ainda tenho que repassar tudo. E sabe o que to
pensando agora, meu Deus? É melhor checar quem foi que me passou os dados. Pra
ter certeza de que não foi o Dorival. Imagina se ele fizer comigo o mesmo que
fez com o Gil. Aquele cara é um bandido. Todo cuidado é pouco. E mesmo na
Lucinda, não sei se posso confiar. Ela tem uma pinimba qualquer comigo. O jeito
que ela me olha, às vezes parece até que não me vê. É um pessoal bem cretino
esse do escritório, sinceramente, todos com o rei do curral na barriga e não é
todo dia que eles te vêem, os olhos dessa Doutora Lucinda, então, passam sobre
mim e tenho a impressão de que não estou lá, sou transparente. Puta de zona! Se
tem uma coisa certa hoje em dia é que não dá pra confiar em ninguém, não mesmo.
Gostar de mim, tenho certeza de que ela não gosta, então porque vacilaria em
entregar minha cabeça numa bandeja como uma Salomé de araque? Era Salomé mesmo o
nome daquela puta da cabeça de São João? Claro que ela não vacilaria. Ela é
super influente com o Walter também, todo mundo sabe. Parece que eles tiveram um
caso, ou ainda têm... só que o Walter é um velho nojento e ela até que não é de
jogar fora. Não faz meu tipo, mas francamente, o Walter.... com aquele jeito
escroto de quem não toma banho, as caspas que nem talco nos ombros ... O Walter
é outro que eu sei que quer me ferrar. Se for para demitir mais um, tenho
certeza que ele indica meu nome. Mercenário! Tem birra comigo desde que entrei.
Desde que percebeu que o chefão tinha simpatia por mim. Naquele dia que o chefe
me elogiou, ele só faltou ter um troço. Bom, já faz tempo isso.... foi logo que
entrei. Agora quase não vejo o chefe, o Walter intermediando tudo, dizendo pode
deixar que eu levo isso e aquilo, e fica nesse vaivém.... Filho da mãe! E essa
bosta de trânsito que não anda! E esse calor dessa cidade! A essa hora da manhã
e já com esse calor. O mundo não tem jeito mais não. É todo mundo ferrando todo
mundo e se eu chegar atrasado mais uma vez por causa desse trânsito, todo mundo
vai me olhar de cara cínica. Nenhum deles mora no cu do mundo como eu e não
sabem o que é isso. E é justo por isso que faço questão de ser o primeiro a
chegar e depois ficar olhando de cima os atrasadinhos. E que o chefe veja meu
carro estacionado quando chega. Ô cambada de preguiçoso! Todo mundo chega
atrasado, mas quando eu, que moro onde Judas perdeu as botas, me atraso um pouco
é um escândalo. Chegar depois do Dorival, então, é uma merda! Ele olha pra mim
com aquele sorrisinho repugnante e não diz nada, mas sei exatamente o que ele
está pensando. Canalha. Ele vai ver se tentar ferrar comigo. Será que o imbecil
vai participar da reunião de hoje? Não tem motivo. Deveria ser só o chefe, o
Walter e eu. Nem a Lucinda. Ela não está trabalhando nesse projeto, mas gosta de
se meter em tudo, dar palpite em tudo, como se o escritório fosse dela. Diabos!
Só porque é amiga da mulher do chefe! E porque dorme com o porra do gerente!
Puta. Bom, parece que sou um dos primeiros. Nem o carro do Dorival nem o da
Lucinda estão aqui. Maravilha. Merda de estacionamento. Agora é revisar tudo e
checar quem me passou os dados. Essa é a primeira coisa que tenho de fazer, ver
se esses dados são confiáveis ou não. Vai dar tempo, sim. Mas preciso ter calma.
Calma. Meus Deus, minha cabeça vai estourar. Depois que as coisas melhorarem por
aqui, vou voltar no Dr. Aniceto. Essa dor de cabeça massacrante tem que ter um
remédio. Ôpa.... olha a Lucinda chegando. Vaca. Vou fingir que nem vi pra não
ter que esperar no elevador e me atrasar mais. Será que a Wanda da Contabilidade
já chegou? Passo por lá, checo os dados e vou direto pra minha sala, sem falar
com ninguém. Nada de papo furado hoje, nada de conversar com esse pessoal que só
quer me apunhalar pelas costas. Bom dia, dona Wanda. Eu queria uma informação,
por favor. Os dados que a senhora me passou pros cálculos da Construtura BMC,
vieram do Seu Walter? Foi? Ah, obrigado. Alô, dona Aparecida. Bom dia. Por
favor, não me passe nenhuma ligação esta manhã. Tenho que terminar o relatório
para a reunião do meio-dia. Obrigado.
E foi simples assim.
Juarez passou a manhã mergulhado nas contas.
Ao meio-dia entrou para a reunião que só terminou depois das 14 horas. Vários de
seus cálculos foram questionados e ele teve que se fechar sem sua sala outra vez
para refazê-los. Só bem mais tarde, quase 17 horas, Dona Aparecida lhe passou a
chamada insistente da sogra:
Juarez, você ficou com o bebê? Fui na creche buscá-lo e me disseram que ele não
tinha ido hoje.
O bebê?
Fim
AI,
PORTUGAL!
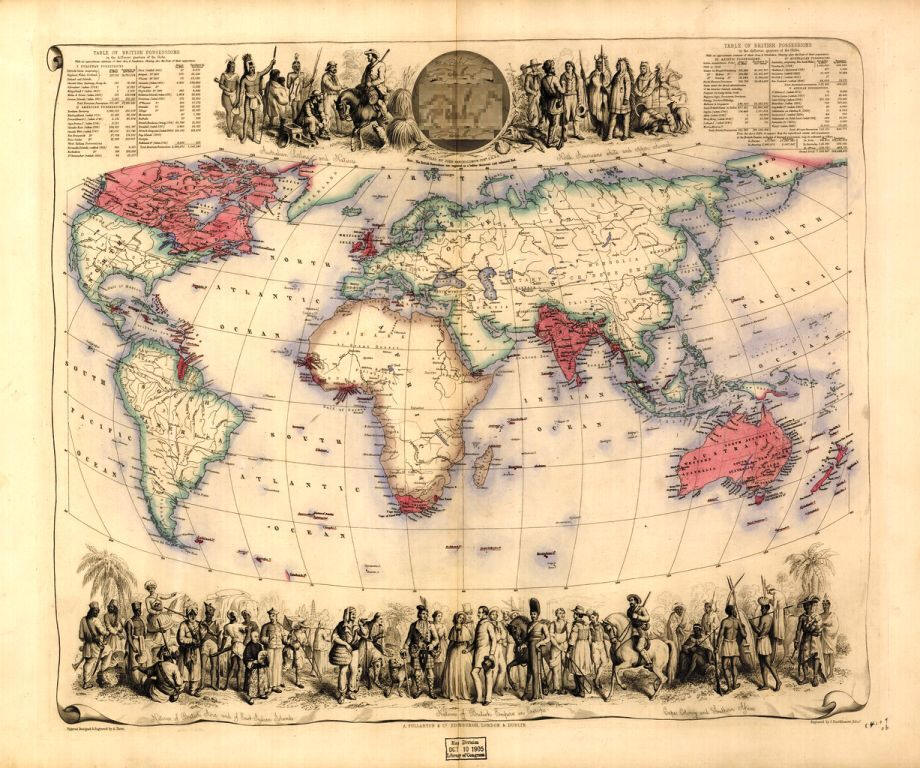 O quanto já fiz por ti! O quanto já fiz por ti!
Desbravei terras jamais imaginadas e o monstro sem nome do desconhecido. Errei
por mundos novos. Tentei ser mais do que homem, ser herói.
Por ti Portugal!
Dei-te meu corpo e meu
fogo, os sonhos de minha cabeça e a vontade dos meus pés. Dei-te o que havia em
mim. Tudo foi teu, Portugal.
Como é teu este mar que
daqui vejo, mar de basalto, o mar que um dia me afastou de ti, mar que odeio. E
que, se nesse momento parece morto, aparentemente imóvel, sem a mais leve onda,
o mais leve risco em sua capa plúmbea, bem sei que é fingimento. Tudo nele é
fingimento, astúcia, hipocrisia. Jamais mereceu a confiança de ninguém, esse
mar. O mar que me trouxe até aqui.
Por ti, Portugal!
O mar que me trouxe a
essa terra que sequer sabia existir, e não queria conhecer, terra no fim de
mundo. No próprio fim desse mundo novo, as pedras rutilantes de tua coroa.
Esse mundo novo não
existe mais, Portugal.
Por ti, acabamos com
ele. Eu e os outros meus iguais.
Desde que pela primeira
vez aqui pisamos, embutidos em nós vinha o que seu mundo tinha de mais velho,
pátria minha. Conspurcamos o que encontramos. Sujamos tudo com teu cuspe rançoso
e podre.
Basta, Portugal!
Agora vejo o quanto
nos enganastes. Agora sei.
Não sou mais aquele que
era quando vim por esse mar. Quando cheguei sem pejo nem pudores, acreditando
ter em mim, por direito de nascença, os direitos plenos da Corte Portuguesa. Fui
até o fim desse mundo novo, governar a chamada Capitania de Goiás, a zona
infernal de árvores retorcidas, terra vermelha e seca, e do calor saído direto
da forja do Diabo.
Por ti eu fui, Portugal.
Mandei escavar a terra,
tirar o metal que por milênios ela produziu. Mandei cortar, despedaçar, abrir, e
escravizar os filhos que ela mesma gerou, um povo a quem ferimos de morte apenas
por estar no lugar em que nascera. Um povo cuja ingenuidade e inocência fizemos
o que nos foi possível para extirpar. Um povo que podia ser nosso amigo, se
nossas intenções fossem outras.
Deus não teve nada a ver
com isso. Só a tua cobiça, Portugal.
Passei anos ali, bem o
sabes! Onze anos, fazendo tudo o que deveria fazer para aumentar tua glória. Fui
teu representante, zelei por teus interesses, finquei tua bandeira naquela
planura quase igual a deste mar, só que vermelha de terra, e mesmo assim, tão
odiosa quanto esse manto pesado de água cinza agora à minha frente. Amansei
aquele mar vermelho. Fiz o que me foi ordenado fazer, e procurei fazê-lo bem.
Por ti, Portugal.
A única coisa que não
fiz por ti, é o que te contarei agora. O meu pequeno e grande segredo. A única
coisa que não fiz por ti, mas só por mim, foi amar uma mulher. Mulher de pele
morena, cabelos de noite negra, olhos com brilhos de lua cheia. Doce e
exuberante, tal qual essa mesma terra quando se aprende a vê-la não como mera
conquista nossa, mas como ela de fato é, com a pujança de sua natureza única e
bela. Belíssima a terra e ela. Minha mulher. Filha de carpinteiro. De
carpinteiro pobre, em que pese a redundância. Uma simples mulher desse povo que
colonizei para ti, Portugal.
Ela, a minha ignomínia.
E, no entanto, também meu triste orgulho. Meu envergonhado amor, e concubina.
Com ela tive três
filhos. Filhos meus, portanto, também filhos teus, pátria minha. Por mais que
bastardos, por mais que indignos, ainda assim, também filhos teus.
Ai, Portugal!
Sei bem que não poderás
aceitá-los. Sei agora que nem sequer irás conhecê-los.
Sei que não te verei de novo, Portugal.
Por todos esses
infindáveis anos, sonhei um dia voltar ao lugar onde nasci, à minha quinta à
beira d´Ouro. Sonhei voltar a percorrer os desfiladeiros profundos e harmoniosos
que cercam meu vale, os mesmos desfiladeiros profundos, mas esses, sim, abruptos
que agora estão cravados em mim.
Pois, hoje, quando
pensava aqui vir para embarcar e seguir por este mar para voltar a ver-te,
Portugal, compreendi o impossível.
A mulher que amo não irá
comigo. Decidiu que não irá, a menos que seja como legítima esposa na lei de
Deus e na lei do Reino de Portugal. Em sua própria terra, viveu na condição de
amásia, mas não aceitará continuar a sê-lo na Corte Portuguesa. Minha amada tem
a fibra e o orgulho desse povo que tentei colonizar para ti. Não irá. Não é de
seu feitio tolerar ser tratada com menosprezo, nem olhada com os olhos da
infâmia. E sabe que assim será tratada pelos nobres de tua Corte, se aí chegar
como amásia.
Não irá.
Eu já deveria saber
disso.
E assim como conheço bem
essa que foi e é, aos olhos meus, minha mulher, também conheço muito bem a ti,
Portugal. Sei do que és capaz. Conheço bem tua hipocrisia. Sei que nunca a
aceitarás como esposa de um filho da tua nobreza. Que jamais a deixará esquecer
que é filha de carpinteiro, e carpinteiro pobre, em que pese a redundância.
Conheço-te demasiado bem, pátria minha. E não quero ver teus olhos devorando a
mãe de meus filhos como se devora uma meretriz.
Isso, eu é que
não suportarei. Como não suportarei teu olhar de troça e desagrado, se dela
fizer minha legítima esposa.
Ah, maldito amor que não
controla o pouso!
Pois sem ela, Portugal,
eu, que nada sou, tampouco irei. Se não sou capaz de te enfrentar por ela, e
fazer de minha amada minha esposa de fato e na lei, se sou covarde a esse ponto,
como sei que o sou, não irei.
Compreendo que verás
nisso a traição de um filho. E reconheço tuas razões, pátria minha. Mais ainda:
sei que serás tu outra vez a vencer neste dilema criado por tua própria rede de
intrigas, falsidade, hipocrisias.
Daqui, olhando este
odiado mar, reconheço e ainda admiro a tua força, Portugal.
Sei que, contigo e por ti, sou forte, mas demasiado fraco sem ti e contra ti.
Nada poderei fazer para defender contra ti a mulher que amo. Em que pese tudo,
ainda sou um filho teu. Tão pusilânime, conspurcado e velho, como qualquer outro
filho teu. Nem pior nem melhor que nenhum de teus heróis.
Mas estou cansado.
Não irei, e tampouco
seguirei nesta terra, que não é minha. Seus dramas me exauriram. Não quero mais
o cálice negro das noites que bebi em terra alheia.
E se sou por demais
covarde para enfrentar-te, não o sou para deixar esta vida onde já nada espero,
e tão pouco tenho. Se, depois de tudo que te dei, é o meu coração que ainda
queres, Portugal, não te acanhes.
Este coração covarde e
cansado, incapaz de enfrentar tua hipocrisia, foi feito por ti e é teu. Não te
farei esperar.
Tome-o, pátria minha.
E crispando os dedos em volta de seu punhal de cabo de prata, Dom Fernando
Delgado Freire de Castilho, ex-governador da Capitania de Goiás, traspassou o
próprio peito à beira do cais, em uma madrugada do ano da graça de 1820, na
cidade do Rio de Janeiro.
Cinco micro-contos
de Maria José Silveira
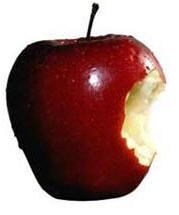 1.
DECLARAÇÃO 1.
DECLARAÇÃO
Ele entrou pela porta e disse “Tô voltando pra casa.”
E ela ficou assim: vendo passarim.
2. PROGNÓSTICO
Meu caro, com esse pulmão o senhor vai viver 100 anos, disse o médico.
Ele saiu assobiando e não viu o carro.
3.
VINGANÇA
Todo ano, tecia um pulôver pro marido, que só usou o primeiro.
No caixão, ela enterrou 47 com ele.
4. A QUEDA
No pesadelo recorrente, era ela e o abismo, ela dizendo: Se é para cair, melhor
cair logo.
Só que daquela vez ela não estava sonhando.
5. REJEIÇÃO
A princesa abre os olhos: “Você? Já disse que não.”
E virando-se, pega a maçã e morde.
 CONVERSA CONVERSA
“Eu
sou uma pessoa ótima. Quem me vê assim, como estou hoje,
pode não se dar conta, mas sou. O próprio pastor vivia me dizendo isso. Cumpro
minhas obrigações sem pestanejar desde pequeno. Meu pai vivia batendo em meu
irmão mais velho, mas em mim não, nunca precisou. Fui bom filho, bom aluno, bom
vizinho, bom funcionário, bom esposo. Seria um bom pai se tivesse tido filho,
mas o Senhor não quis. Cheguei a ser voluntário no hospital com o pastor: fazia
orações com os doentes, levava aos pobres enfermos a benção de Deus. Sempre fui
religioso, e há vários anos, graças ao Senhor, sou evangélico. Orgulho muito
dessa minha correção na vida, e o pastor era o primeiro a dizer, “Dorival, você
é uma pessoa ótima.” Nunca roubei, jamais praguejei nem maldisse a vida nem
desejei o mal do próximo. Ficava sempre no meu canto, fazendo minhas coisas da
melhor maneira possível, sem mexer com a vida de ninguém, a não ser para ajudar
no que podia. Se via um cego na rua, ajudava. Os idosos também, eu ajudava
muito. Os animais. Nunca fiz mal a uma mosca. Via a estrada da minha vida como
uma linha reta, seguindo sem desvios, sem buracos. Um asfalto lisinho, sabe?, só
que branco. E nunca soube o que era perder o controle até o dia que cheguei em
casa e peguei os dois na minha cama. Talvez tenha sido por isso, porque nunca
tinha tido raiva nem ódio de ninguém, que não soube como reagir. No meu modo de
entender, foi como se eu ficasse cego. Mas não fiz cena nem nada, isso não. Não
disse nada, ou disse bem baixinho o que pensei, “Adúltera”. Então fui até a
cozinha e peguei a faca afiada que ficava no imã de parede que eu havia achado
bacana numa oferta da TV e comprei pra ela. Peguei a faca, uma faca boa que
também comprei pra ela, faca especial pra fatiar carne que ela dizia pras
vizinhas que nunca tinha visto uma faca tão boa assim. Voltei pro quarto. O
fulano já não estava lá. Não fiquei sabendo quem era e não quero saber, já
perdoei. Mas ela continuava ali na cama deitada, toda enrolada, rosto coberto,
no lençol branco do jogo de roupa de cama que eu tinha comprado pro nosso
enxoval. Então foi que me aproximei, ergui alto a faca e enfiei. Como não sabia
onde enfiar direito, ela demorou a morrer. Continuou um tempão como que arfando
debaixo do lençol que ia se inundando de sangue e sujando também minha calça. E
eu ali sentado, olhando aquilo como que sem ver e a única coisa que eu pensava
era uma coisa só: “Senhor meu Deus, quanto vai valer agora minha vida inteira de
correção?”
Local: cela
coletiva do Presídio Masculino de Corumbá, dezembro de 2010
MARIA ANTÔNIA*
Conto de Maria José Silveira
 Carta
anônima? Àquela altura de sua vida? Carta
anônima? Àquela altura de sua vida?
Suas
mãos tremem um pouco ao pegar a colher para refogar o molho de tomate e
manjericão do jantar. Sente um zumbido na cabeça, mas não é labirintite.
Funcionária aposentada da Câmara, com filha criada, há muito acreditava que o
tempo dos amores ficara bem, bem para trás. Não que tivesse tido muitos; mal
teve um: o marido.
O
marido que logo depois do casamento revelou-se o que seria pelo resto dos anos.
Raivoso, como se algo permanentemente o consumisse por dentro. Trancado em si
mesmo com uma porta sem chave. Não fossem os finais de semana no clube,
desconfiaria que havia perdido o dom da fala. Mas conversar com os amigos, ele
conversa. Só com ela a comunicação se restringe a resmungos exclamativos: “Você
é um caso perdido, Antonia!”
Se
ele soubesse das cartas de amor, o que faria? Não tem idéia. Abriria a boca em
estupor, como no dia em que a filha veio anunciar que estava grávida? A
queridinha dele, desde então proibida de entrar em casa. Como se tivesse deixado
de existir. Poderia ter tido um enfarte, não fosse a saúde de jumento. Pelo
menos isso ele tem de bom: não adoece. Quando também se aposentou, as amigas lhe
disseram, “Agora você vai ver”. Mas até hoje ela não viu. Um jumento. Ainda bem
que de doenças ele a poupa.
Se
descobrisse as cartas, o mais certo é que daria a gargalhada que nunca dá: “Não
pode ser pra você, Antonia! É engano.” Depois, no clube, faria o comentário que
adora: “Só em Brasília acontece coisas assim! Carta anônima!? De amor! Para
Antônia! Essa cidade é doida.”
E
todos ririam dela, como tantas vezes riram. Dessa vez, talvez até ela risse
junto. Se nem ela acredita!
Quando abriu a primeira, leu “Maria Antonia”, numa letra caprichada, parágrafos
sem erros, concordância e ortografia impecáveis, e o assunto, Deus meu!, como
foi perturbador! Como poderia ser a mulher da vida de alguém que nem conhece?
O que
ele poderia saber sobre ela?
Muita
coisa, pelo visto. Sabia onde morava, sabia da filha, sabia do marido. E
assinava, “Quem te esperou a vida inteira”. Não era lindo? Podia ser anônima,
mas como era bem escrita! E logo para ela! Pessoa tão aquém de seu tempo, sempre
por fora, mesmo quando jovem. As moças de sua época conheciam a pílula, ela não.
Casou virgem. Talvez a última mocinha a se casar virgem no mundo. Era do
interior, com educação à moda antiga. O último exemplar no mundo de uma educação
antiga! Deviam exibi-la em um museu.
Aos
20 anos, enquanto sua geração jogava pedras nas ruas, ela dava de mamar à filha.
Primeira e única. Que depois da briga, o marido nunca mais deixou entrar em
casa. Nem o gosto de ver a filha, Antonia pode ter. Só escondido. Uma criança
frágil que lhe deu tanto trabalho, e mesmo assim só queria saber do pai. A vida
toda manteve a mãe a distância. Tudo de ruim que lhe acontecia era culpa de
Antonia. O cabelo ralo, as espinhas da pele, as inaptidões físicas, as pernas
finas. Por um milagre, não a culpou pela gravidez. Mas culpou depois, quando fez
o aborto e quase morreu. Acusou-a de não ter enfrentado o marido quando
precisou. O que não era verdade. Antonia enfrentou. À sua maneira, mas
enfrentou. Até hoje enfrenta. Faz tudo o que pode pela garota, que vive lhe
cuspindo na cara: “Nem como mãe você presta”.
Por
que nunca se separou? Pergunta que a atormentou quase todos os dias de sua vida.
Para as poucas amigas, dizia: “É do meu feitio.”
Mas a
resposta era outra: medo. A única resposta para todas as não-escolhas que fez na
vida: medo.
Sentada na cadeira da cozinha, olhar perdido, Maria Antonia balança a colher no
vazio. O molho, esquecido, forma crostas mini-aluviônicas na panela em fogo
baixo.
Nos
anos de trabalho no Congresso, foi funcionária exemplar no cumprimento de
horários e das obrigações. Entrou ali por conselho do pai – o marido não queria,
mas o parco salário de vendedor fez com que engolisse o argumento do sogro que
insistiu (“Aí onde você foi morar, todo mundo é funcionário público. Se você não
quer seguir essa carreira, deixa Antonia.”).
Os
melhores anos de sua vida.
Saía
de casa, conversava com as pessoas, fez amizades. Naquele tempo houve também
estremecimentos, paqueras, voltear de cabeças masculinas. Antonia foi bonita, um
pouco sem graça, mas bonita: cor perolada, ossos bem formados, pernas formosas.
Mas nunca permitiu que ninguém se aproximasse com outras intenções. Não que o
marido merecesse, mas era do seu feitio, pensava. Embora também quanto a isso,
ela soubesse: não era correção. Era seu terror particular ao abismo do
desconhecido.
O
molho na panela solta uns estertores, mas ela não ouve.
Será
um dos antigos colegas de trabalho o autor da carta? Aquele moreno, quase negro,
sério como ela, que lhe sorria quando ela passava? Disseram que ele foi
transferido para o Estado do deputado com quem trabalhava. Talvez o vizinho do
Bloco D. Esse muitas vezes tentou se aproximar, ela cortou. Está divorciado,
contou a fofoqueira do 402. Ou será um dos amigos do marido, do clube? Se for,
melhor esquecer; ela abomina todos eles. Um amigo de verdade faria isso? Acha
que não, mas o que entende dos homens? Nada. Seu mundo sempre foi minúsculo.
Suas opções, pouquíssimas. Ou ao contrário: suas opções foram poucas, e por isso
seu mundo ficou minúsculo. O ovo ou a galinha?
Tinha
pavor desse enigma. Medo da resposta, que sabia.
Medo,
medo, medo. Essa, a resposta. Sempre
Medo
do pai, primeiro; depois, do marido. Até de Brasília ela teve medo quando
chegou, 22 anos, grávida. Tanta amplidão, para quê? Uma cidade que não caberia
em nenhum outro lugar, criada para aquele espaço desmesurado do planalto, como
se a natureza clamasse por esse tipo de cidade. Depois foi se acostumando, mas
no começo não saía de casa. As coisas passando e ela incapaz de escapar.
Deixando a vida passar por medo.
De
repente, levanta-se, Desliga o fogo. As crostas já estavam no estágio
desesperado de se agarrar ao que pudessem, e um cheiro picante invade a casa.
Dariam um trabalhão para limpar. Mas agora não tem tempo.
Vai
até o quarto vazio da filha. Abre a última gaveta do armário, onde guarda seus
lenços de seda. Nunca usa, mas tem paixão por eles. Lenços de cores e estampas
variadas, tão suaves ao toque que a remetem de imediato a prazeres que
desconhece. Tem certeza, agora: o desconhecido também é suave e caloroso.
Um
estranho impulso a move. Bem no fundo, debaixo dos lenços, as cartas anônimas.
Oito.
Só
uma aberta, a primeira.
Volta
à porta e passa a chave. Ou lê as cartas agora. Ou nunca.
Na
sua cabeça, a pergunta: será tarde demais?
* Conto
publicado por primeira vez no Caderno Pensar do Correio Braziliense, em
25/6/2007
UM SEGUNDO SEM DOR
Maria José Silveira
Ele está
sentado na sala de espera, a dor sentada com ele.
Para fazer
alguma coisa, levanta-se e ajeita a carteira no bolso de trás.
A
recepcionista, moreninha raquítica e mal-humorada, por fim chama seu nome. Ele
entra em outra salinha esquálida.
A careca,
os óculos, a pele sebosa – é tudo o que ele vê do médico de cabeça baixa que,
sentado à mesa de aço cor de aço, faz um gesto indicando a cadeira à frente. A
cadeira faz creeeec quando ele se senta e ele pensa, essa cadeira está
nos últimos dias, como eu.
Um martírio
nas costas, uma dor na altura dos quadris, é o que diz assim que o doutor lhe
pergunta qual é o problema. Atrás, a parede branca e lisa é tão neutra quanto a
expressão na cara gorducha do médico. Dói muito, doutor, ele repete, com um
pequeno esgar. Esforça-se para não deixar transparecer o que sente, acha
fraqueza, mas o esgar é mais forte do que ele. É ela, a própria dor, que parece
entortar sua boca e semicerrar seus olhos.
O médico
faz um sinal para ele que se levante, e quase ao mesmo tempo se levanta também.
Pede que ele se vire para a parede do lado, tão branca e neutra quanto a outra.
Aperta pontos em suas costas.
Dói?
pergunta.
Aí, não.
Aqui?
Não.
Aqui?
Aaaiiiiiiiiiiiiiii!!!
O médico
faz uma pausa enquanto ele quase desmaia.
E logo:
Muito bem, pode se sentar.
É grave,
doutor? ele pergunta.
Não, é o
que o médico grunhe de cabeça baixa, já sentado à mesa, pegando o bloco e uma
caneta Bic. Rabisca rápido uma ou duas linhas e diz: Duas cápsulas por dia, por
30 dias; Com um puxão tira a página do bloco, já assinada e lhe passa.
Obrigado,
doutor, ele diz.
O médico
abaixa outra vez a cabeça e com a caneta Bic lhe aponta a porta.
Receita na
mão, ele sai do consultório direto para a farmácia da esquina. A dor vai grudada
nele, e o faz outra vez semicerrar os olhos. A farmácia está vazia, o balconista
é prestativo e não enrola para lhe entregar o remédio pedido.
No caixa,
com um gesto mecânico, ele procura no bolso de trás.
Vazio.
Um raio
claríssimo afasta por milésimos de segundos sua dor: O maldito daquele doutor!
(“Paciente acusa médico de furtar carteira”, notícia publicada em “O Estado de
São Paulo”, 24 de outubro de 2009)
ilustração de Maria Valentina
 CARTA
A UM CERTO AUTOR CARTA
A UM CERTO AUTOR
Ao Sr.
Hans Christian Andersen
Ilmo.Escritor
Caro senhor:
Embora
sendo quem o senhor hoje é – famoso, além de humano – quero crer que não tomará esta carta de maneira leviana.
Escrevo-a usando minhas prerrogativas de personagem e não na condição de rainha
– o que poderia ter feito, mas não fiz, para que não me acusem de fazer valer
nenhum princípio de autoridade.
São meus
direitos de personagem que eu gostaria de abordar aqui, esperando contar com sua
sensível compreensão. O mundo ficcional nem sempre permanece totalmente sob o
controle de um criador – como o senhor deve saber bem – e é o que parece ser
outra vez o caso.
Quero crer,
igualmente que, como autor, o senhor esteja preparado para receber tanto elogios
quanto restrições a sua obra, venham de plebeus ou majestades.
Começarei
com os elogios.
Não são
muitos.
Terminada a
leitura de seu conto sobre o meu reino e uma de minhas adoráveis netas, ao qual
o senhor deu o título de “A Pequena Sereia”, devo, por justiça, reconhecer o bom
trabalho que o senhor fez em relação a alguns pontos.
Sua
descrição, por exemplo, de algumas características do mundo marítimo é, embora
parcial, acurada. Gostei particularmente do relato sobre as belezas do meu
castelo, ainda que não possa deixar de lamentar a falta de ênfase ao descrever
nosso famoso telhado de ostras, uma reconhecida obra de arte arquitetônica
revolucionária, da qual tenho muito orgulho porque foi especialmente encomendada
por mim a meu falecido pai.
Reputo
também como muito feliz a comparação feita entre os peixes do mundo do mar e os
pássaros de suas florestas da terra. Foi bastante perspicaz de sua parte colocar
assim a questão, tornando compreensível para seu leitor o papel que os peixes
representam no fundo dos oceanos.
Parabéns.
Outrossim,
apreciei bastante a descrição da beleza de minhas netas. O senhor empregou
palavras justas.
Lamentavelmente, porém, não posso dizer o mesmo da maneira como trata outros
personagens, supostamente secundários, como eu. Não posso deixar de dizer que me
senti profundamente injustiçada em seu livro. Como rainha e como personagem.
Senão,
vejamos.
Para
começar, uma impropriedade que, numa primeira leitura, encarei apenas como
defeito de estilo. Ao longo de texto, porém, constatei que, além de ser uma
completa inadequação, é também sintoma de sua incapacidade de compreender minha
real figura e meu papel. Aludo ao epíteto de “velha”, que o senhor coloca sempre
antes dos meus títulos ou atributos, quando a mim se refere.
Marquei
todas as vezes – e são muitas. Por todo o livro, o senhor só se refere a minha
real figura como: a velha rainha, a velha viúva, a velha
rainha viúva, a velha avó, a velha mãe do rei, a velha
sereia.
Por meus
sais! Permita-me lhe perguntar, senhor, qual é seu propósito?
Esse estilo
repetitivo e sem originalidade visa exatamente a quê?
Logo o
senhor que já havia compreendido perfeitamente bem a extensão peculiar do tempo
médio de vida no mar, bastante diferente do tempo de vida na terra. Nosso tempo
médio de vida é, como o senhor bem colocou, de 300 anos, razoavelmente mais do
que o de vocês. Portanto, como ser chamada de “velha” – e reiteradamente como
se fosse quase um apodo natural a ser acoplado a meu nome –, se estou no pleno
auge de minha exuberância de sereia?
Ser avó, no
meu reino, permita-me que lhe diga, senhor escritor, é uma honra! Principalmente
em casos como o meu, que fui avó muito jovem. Ainda hoje tem muita gente que, ao
ver minhas adoráveis netas, não esconde sua admiração:
“Netas?!
Parecem mais suas filhas!”
Se o senhor
tivesse pesquisado melhor, saberia.
Se tivesse
pesquisado melhor, inclusive, ouso dizer que provavelmente teria mudado o foco
de sua história. Essa história que o senhor se deu ao trabalho de contar,
convenhamos, não passa de mais uma versão do batido tema do amor rejeitado.
Quem, hoje, já não está cansado desse tipo de história? Quem não está enjoado de
ver mais uma adolescente irresponsável e masoquista trocando tudo que tem por um
idealizado amor romântico? Quem quer ouvir tudo isso se sabe que, no final, a
mocinha inocente será deixada por outra?
Por meus
sais!
Sei, sei o
que o senhor vai dizer! Que não é sua culpa se esse é um arquétipo da
adolescência: o frenesi pela busca da identidade própria, o abandono da família,
a rebeldia, a idealização do amor etc.etc. Admito tudo isso. Mas achar que valia
a pena contar para posteridade a tolice de minha neta em entregar para a velha
bruxa – essa, sim, realmente uma velha, diga-se de passagem, senhor autor – o
que tinha de realmente excepcional, sua voz, e concordar em ficar muda? E, além
disso, aceitar passar a vida pisando em lâminas afiadas? O que tem de
edificante nesse exemplo da única desmiolada da família que só nos deu
dissabores?
Por meus
sais!
Se o senhor
pesquisasse mais, como soem fazer, por exemplo – não precisamos ir longe – os
bardos ingleses, teria percebido que debaixo de seu nariz havia outra trama se
passando. Uma trama que, sem falsa modéstia, reputo muito mais interessante e
pertinente. A trama que realmente conta: a de quem conquista e mantém o poder. O
trono.
O senhor
não vive na Dinamarca? Não sabe quando um reino tem algo de podre?
Que reino,
aliás, não tem algo de podre?
Pois o
nosso também tem, e isso o senhor deixou passar. Nem sequer percebeu. Se
percebeu, não mencionou. Sequer se interessou pela minha história, minha vida,
meus sofrimentos. Não! O senhor não viu em mim o poder, só viu em mim uma
velha!
Ó cego!
Sei que
agora já não é possível mudar a trama de seu livro, mas vou lhe contar um
pequeno resumo da minha vida, para que o senhor tenha um gostinho do que perdeu.
Saiba,
senhor escritor: não nasci rainha.
Venho de
uma família de sereias muito pobres.
Há uma
parte do meu reino que o senhor possivelmente não conhece – e que isso, por
favor, fique entre nós; realmente não há razão para que o público estrangeiro
conheça nossas contradições internas. Só lhe conto essa parte para que entenda a
via-crúcis pela qual passei.
Nasci numa
periferia de favelas e bairros populares. Meu pai era um trabalhador
especializado em lapidação de ostras. Um artista em seu tempo. Sábio e
ambicioso, soube me preparar para o mundo.
Desde
pequena, e sem falsa modéstia – a falsa modéstia não me trouxe aonde cheguei –
minha beleza e inteligência eram dignas de atenção. Fui, e ainda sou - como já
disse a falsa modéstia etc. etc. ... – belíssima. Nenhuma das minhas netas
chegou sequer aos meus pés. Minha fama atraía admiração e, conseqüentemente,
inveja. Passei – e ainda passo – meus dias administrando essas duas pontas do
mesmo iceberg.
Naquele
tempo, o reino era governado pela rainha que me antecedeu - essa também outra
que poderia verdadeiramente ser chamada de velha, senhor escritor.
Seu filho,
o príncipe, se apaixonou por mim. Foi uma paixão recíproca e verdadeira, mas
creio que podemos pular essa parte; sabemos como são cansativas e parecidas as
histórias da descoberta do amor. Basta dizer que a Rainha foi contra. Não queria
admitir que o filho se casasse com uma plebéia, menos ainda uma plebéia
preparada e inteligente. Uma plebéia que poderia se contrapor a ela. Uma plebéia
que poria em xeque seus planos de controlar o filho, quando se tornasse rei.
Mandou seus
lacaios me seqüestrarem.
Passei
quase dois anos prisioneira em uma caverna, sem ver os raios do sol atravessando
as profundezas das águas. Tampouco os raios da lua. Muito menos os das estrelas.
Nenhum raio, portanto. Nenhuma luz, a não ser o candeeiro de peixe-elétrico.
Tinha por
companhia apenas uma lula – essa, apesar de muito querida, também velha,
senhor escritor; sei reconhecer uma pessoa velha.
Com fina
astúcia – cujos detalhes também podemos pular, pois encompridaria muito essa
carta – consegui enviar uma mensagem ao príncipe que percorria o reino a minha
procura.
Como parte
de sua estratégia, a velha mãe espalhara que eu havia morrido nas mãos de um
tubarão feroz, atacado pela raiva – uma enfermidade que também acomete os seres
marítimos. Meu príncipe não acreditou. Estava apaixonado, mas não era tolo.
Percebeu a armação da velha mãe. Como era um bom filho, no entanto – e um pouco
covarde, coisa que só vim a descobrir com o tempo – não se sentiu capaz de
obrigá-la a confessar seu crime e revelar onde eu estava.
Em sua
peregrinação de quase dois anos pelo meu paradeiro, meu belo príncipe passou por
momentos tenebrosos – o que também podemos pular. Basta dizer que ele foi parar
na gruta da Bruxa Má dos Mares Revoltos, sem saber que ela era mais uma aliada
da velha Rainha. Ninguém suspeitava que a baixeza de minha futura sogra pudesse
chegar a tanto. Mas chegou. Só que a Bruxa era o pior tipo de aliado, daqueles
que não merecem a confiança de ninguém e trocam de lado por qualquer mínima
vantagem. Portanto, em vez de enganar ainda mais meu belo príncipe, ela o ajudou
– só que podemos pular isso também, pois envolve negociações chatíssimas. Basta
dizer que depois de tudo, ele me libertou.
Mas não:
não fomos felizes para sempre. Isso o senhor, com sua experiência de escritor,
deve saber perfeitamente bem: ninguém é feliz para sempre.
Tivemos
nossos bons momentos, claro, com champanhe geladinha e caviar dourado (o mais
raro e delicioso, não sei se o senhor já experimentou), cafuné e longos
tatibitates ao pôr do sol. Com muito empenho, consegui que meu príncipe banisse
a velha rainha para sua casa de inverno. Ela certamente merecia um castigo
maior, mas já estava se aproximando dos 300 anos – entende o que quero dizer,
senhor? Não representava grandes riscos.
Tivemos
também nossos momentos ruins, enfrentando as intrigas e baixezas de praxe em
qualquer corte, com os correspondentes banimentos, execuções e suores noturnos.
Muitos suores noturnos, dito seja de passagem. Dos dois tipos: os bons e os
ruins. Podemos também pular essa parte.
Basta dizer
que só tive um filho, esse que o senhor conheceu – o pai das minhas netas – e ao
qual também não faz jus em seu conto, permita que lhe diga. Quando assumiu o
trono, depois da desventura ocorrida com seu pai, foi ele quem modernizou o
reino, ampliando suas fronteiras e potencializando suas riquezas. Sempre fomos
muito unidos e, sem falsa modéstia – que a falsa modéstia etc.etc. – meu filho
acatava meus conselhos. Seus feitos mereceriam uma carta à parte – por isso,
vamos pulá-los também.
Recentemente, no entanto, meu dileto filho e poderoso rei está passando por uma
fase delicada. Começou a ser assombrado por fantasmas que, temo, estejam
colocando minhocas em sua cabeça.
O senhor
sabe com que facilidade isso ocorre.
Minhocas e
fuxicos horríveis. Referem-se – imagine! – à desventura vivida por seu pai.
Insinuam – veja o senhor! – que a lança que feriu o velho rei na batalha – me
esqueci de dizer que casei muito jovem, quase uma menina, e o rei, meu dileto
esposo, era bem mais velho do que eu – não pertencia ao exército inimigo e sim a
um traidor de sua própria escolta.
O senhor
sabe também que esse tipo de rumor escabroso é que faz a vida de uma corte,
certo? Portanto, podemos pular essa parte. Basta dizer que meus cabelos de
sereia, por exemplo, que em seu livro o senhor diz que perdi devido à tristeza
causada pela desmiolada da minha neta mais nova – errado! Imagine se os perderia
pelas leviandades de uma jovem inconseqüente! Vê-se que o senhor realmente não
me conhece! Esses cabelos – cuja beleza é lendária no meu reino – só comecei a
perdê-los recentemente, devido a problemas relacionados ao exercício do poder e
à administração dessas horrorosas fofocas fantasmagóricas cochichadas aos
ouvidos do meu filho que, de uns tempos pra cá, incompreensivelmente passou a me
evitar.
Não é fácil
ser rainha.
Mas como
disse no começo, só estou fazendo um resumo de minha vida. Uma sinopse – como se
diz modernamente. Apenas para lhe dar um gostinho da história que perdeu. Uma
pequena isca.
Sei que é
assim que funciona um escritor: como um peixe.
Sabedor de
tudo isso agora, quero crer que o senhor entenderá por fim meu inconformismo ao
ver que no seu conto mal apareço.
Por isso,
venho – não com autoridade de rainha, repito, mas como prerrogativa de uma
personagem injustamente tratada – pedir que o senhor faça algum tipo de
retificação nas próximas edições de seu livro.
Temo que,
apesar dos toscos erros que ostenta, ele corra o risco de se tornar mundialmente
conhecido: o ser humano adora esse tipo de historinha arquetípica e humor
duvidoso no qual o senhor se especializou.
Mas se não
puder mudar toda a história – o que suponho já compreendeu que seria o melhor a
fazer – espero que pelo menos tire do meu nome aquele detestável e inadequado
epíteto com o qual não quero – e não mereço – ficar para a posteridade.
Pelo menos
isso.
Com meu
real empenho,
A rainha do mar
------------------------
Nota do editor: Quando essa carta foi encontrada
dentro de uma garrafa encalhada numa praia isolada da Dinamarca, o Sr. Hans
Christian Andersen estava há muitos anos falecido. A carta se encontra hoje em
seu espólio, etiquetada como documento número 333300-7, de autenticidade
contestada. Considera-se que o Selo Real encontra-se muito danificado pela
umidade, o que não permite uma avaliação definitiva de sua procedência
original.
(Conto publicado no livro juvenil “Meu presente para o mundo”, LGE Editora)
A
calça esquecida
 Primeiro
sábado de sol da primavera na cidade de São Paulo. Primeiro
sábado de sol da primavera na cidade de São Paulo.
Não sei de
onde vieram, e quando demos por eles, os dois estavam no chafariz da Avenida 9
de Julho, um pouco abaixo do MASP.
Da janela
do nosso apartamento à frente, Felipe diz: O cara está pelado.
Peguei o
binóculo.
Não estava
pelado. Estava com uma bermuda cor de pele.
Com
tranqüilidade entrou na água escura, manchas verdes lodosas, do raso e pequeno
lago do chafariz. Seu colega, de cueca preta, foi até o canto esquerdo onde,
perto da torneira, havia uma banheirinha de nenê de plástico azul,
estrategicamente deixada ali por alguém. Tira sossegado sua calça de malha
preta, a camiseta, e se põe a lavá-las, com outras roupas, na bacia improvisada.
Não sei se usou sabão. Sei que as molhou, esfregou, enxaguou e colocou uma calça
preta para secar no parapeito mais alto da fonte e a outra, também preta, no
lado mais baixo, mais próximo. Estendeu-as com cuidado e alisou suas dobras.
Parecia um tranqüilo dono de lavanderia cumprindo suas funções.
Enquanto
isso, o colega da bermuda cor da pele, peito nu, sentado no outro canto da borda
do lago verde de musgo, esfregava-se com alguma coisa e se lavava pegando nas
mãos em concha a água suja. Por algum motivo, não foi até a torneira onde a água
deveria estar menos contaminada e mais limpa.
Apoiadas no
muro um pouco mais afastado, entre as moitas de plantas, duas mochilas grandes.
Eu disse:
Esses não são mendigos, Felipe, devem ser turistas europeus. Confundiram nosso
chafariz abandonado com alguma fonte das cidades européias. Repara só nas
mochilas, e na postura. Talvez não sejam europeus, mas não são mendigos.
Estavam em
um espaço público, indiferentes aos olhares dos que passavam, os dois
aproveitando a água como lhes aprazia, como se suas ações privadas fossem de
caráter tão público como o entorno. Alguém das janelas dos apartamentos nos dois
lados do chafariz observando-os fazer de área privada o chafariz público
poderia, talvez, se sentir mais invadido do que eles.
A luz
imóvel da manhã, o chafariz sujo, e os dois tão despreocupados como se
estivessem em um quase bucólico fundo de quintal de palmeiras maltratadas e
vegetação rala.
O de
bermudas foi para trás de uma moita, enquanto o outro acabava de se lavar, e de
estender as calças. Pensei que fosse esperá-las secar. Mas, se turistas fossem,
deviam ter programa melhor para a manhã de sol. E de fato: o que lavara as
roupas não esperou que secassem. Pegando a camiseta e a calça de malha ainda
molhadas estendidas no parapeito abaixo, vestiu-as, e foi para onde o outro, de
bermuda cor de pele e agora também de camiseta escura, esperava. Ali, colocaram
os tênis e, mochilas às costas, saíram para pegar o ônibus.
Supostamente limpos e renovados, esquecidos do que deixavam para trás.
Esquecidos,
inclusive, da outra calça de malha preta estendida no parapeito superior do
chafariz.
No decorrer
do sábado, outros turistas ou mendigos – em grupos ou solitários – também vieram
se limpar na água precária.
Errados
eles? Com certeza não, vítimas que são de uma metrópole que não oferece mínimas
condições de vida decente a muitos de seus cidadãos e visitantes e, de roldão,
tampouco a seus monumentos.
E lá
continua ainda agora a calça esquecida no parapeito mais alto, imagem desolada
de desabrigo, e agora já é domingo, outro dia de sol, outro dia de banho e
lavagem de roupas no chafariz público abandonado no primeiro final de semana da
primavera em uma das principais avenidas da cidade de São Paulo.
ENTRE UMA ESTAÇÃO E OUTRA
 O
metrô é um dos lugares mais anônimos que conheço. Cada pessoa ali está voltada
para si mesma e para a estação em que vai descer. Toda pessoa ali quer que o
vagão pare em seu destino, a porta se abra e ela possa descer. Toda pessoa ali
está com pressa, ou se preparando para ter pressa. Cada pessoa ali quer chegar. O
metrô é um dos lugares mais anônimos que conheço. Cada pessoa ali está voltada
para si mesma e para a estação em que vai descer. Toda pessoa ali quer que o
vagão pare em seu destino, a porta se abra e ela possa descer. Toda pessoa ali
está com pressa, ou se preparando para ter pressa. Cada pessoa ali quer chegar.
Nunca encontrei ninguém no metrô. Até ontem.
Estava sentada de frente à porta e entra um cara que me parece
longiquamente familiar – de onde?, de que lugar? E ele, depois de um momento de
visível surpresa, vem direto até onde eu estava, “Você por aqui?” Dou um sorriso
meio vago, mas a alegria dele é esfuziante, “Menina, menina, você!” Embaraçada,
continuo o sorriso que supus ir adquirindo um tom meio amarelo, “Ãa…” “Te
encontrar aqui no metrô, depois de tanto tempo, aqui, agora, mal posso
acreditar! Você!”, e eu ainda sorrindo, agora talvez alaranjado no esforço de
vasculhar a memória, quem é esse cara?, de onde o conheço? quem é? E ele, “Te
procurei durante anos. Anos. Mas como te encontrar, se nunca soube seu
sobrenome, só o nome de guerra, como poderia te achar? E agora, assim do nada,
você aqui! Você!” Nome de guerra? É da militância então que ele me conhece, mas
onde? quando?, e ele me olhando com uma intensidade tão desconcertante que achei
que não poderia decepcionar assim o cara, mas que cara, quem é?
Ele começa a perceber minha confusão, “Você … você se lembra de
mim, não lembra?” E eu, “Ãa sssim sim…”, procurando ganhar tempo e tirar algum
vislumbre de sob as camadas que o tempo colocara naquele rosto que me olhava tão
enfático, algum traço que revelasse como era aquele conjunto de traços no
passado, algo que me fizesse lembrar de alguma coisa em algum outro tempo. Mas
nada. Completo vazio. Total incapacidade de colocar aquela fisionomia em
qualquer momento da minha vida, e creio que, por fim, ele compreende, ou mais ou
menos compreende, que eu realmente não o reconheço.
Seu rosto se esvazia como um balão a minha frente, o vigor
intenso que o movimentava se apaga tão abruptamente quanto uma lâmpada em um
pequeno quarto escuro.
“Você não se lembra…”
Sinto que o trem está parando e perto dele tem um cara que toca
seu ombro,
“É aqui. Vamos?”
E de repente sua desilusão é tão absoluta que se eu esticasse a
mão poderia tocá-la.
Hesitando ainda ele sai do vagão, e me olha pela última vez do
outro lado do vidro da janela, e só então compreendo que deveria ter dito logo
que não me lembrava, que provavelmente nunca o conhecera, que certamente não era
eu a pessoa que ele tanto procurara, não poderia ser já que não me lembrava. Só
assim, talvez, eu pudesse ter evitado a decepção irreparável que
inadvertidamente acabara de causar a esse completo desconhecido, numa tarde como
qualquer outra no metrô, entre pessoas que apenas desejavam chegar a algum
lugar.
(Publicado por primeira vez no jornal “O Popular”, de Goiânia.)
A menina do Teatro Municipal
Rosa nasceu
no Teatro Municipal de São Paulo. Seu pai era o zelador; sua mãe, a esposa do
zelador. Sua casa, pequeno apartamento nos fundos da coxia.
Quando
nasceu, três musas vieram a seu berço.
Uma falou:
Rosa! Rosa! Que privilégio o seu! Nascer na morada da arte.
A segunda
disse: Rosa! Rosa! Que fardo o seu! Viver ao lado da arte.
A terceira
disse apenas: Rosa! Rosa! O que será de você, menina?
E no
começo, como foi alegre e fácil! Quando a orquestra tocava para ela e artistas
do mundo inteiro se apresentavam em sua casa. Quando, nas horas vazias, o palco
imenso e verdadeiro era seu, e lá ela podia ser o que bem queria - cantora,
pianista, bailarina. Brincando com sapatilhas que encontrava pelos cantos,
artefatos, fantasias. Ou brincando com a boneca que virava atriz, palhaça ou
apenas boneca. No dia do seu aniversário, o pai a colocava em um camarote e lhe
dizia: a apresentação de hoje é para você, querida! E Rosa, menina, era
inteiramente feliz no palco de seu mundo.
Mas eis que
um dia o mundo de fora bate à porta do Teatro. Rosa ainda não sabia que o mundo
de fora era um ogro e tomaria sua casa e seu palco, seus brinquedos e ilusões.
Já não precisavam de zelador.
Pobre Rosa!
Que fardo o seu! Que outra casa jamais poderia se comparar à que teve? Que
outras brincadeiras jamais poderiam chegar aos pés das que brincava no seu
palco-mundo?
Mas Rosa,
desde então, jamais deixou de tentar, de alguma forma, voltar para sua
casa-Teatro. Passou a ir a todas as apresentações, mas ser público não era, nem
de longe, a mesma coisa. Tentou voltar como artista; estudou piano, e se formou
- mas não deu. Ela, que tão facilmente tocava em seu palco-casa, descobriu o
quanto era difícil ser artista no ogro-mundo de fora. Tentou, então, voltar como
monitora de visitantes. Afinal, ninguém tinha nascido ali a não ser ela, ninguém
entendia melhor tudo aquilo do que ela. Só que, vindo do berço que viera,
ninguém era mais geniosa do que ela - também não deu.
Em um
momento de desconsolo, Rosa pensou que talvez soubesse como voltar um dia para
sua casa. Como iria outra vez morar no fundo das coxias e se apresentaria como
quisesse no palco vazio e, no dia do aniversário, estaria outra vez no camarote
onde se sentava quando criança a desfrutar o espetáculo apresentado em sua
homenagem. Talvez soubesse quando tudo isso de novo aconteceria: quando ela
fosse um fantasma e voltasse.
Mas, não!
Assim, não! Seria muito cruel. Teria que achar outro jeito.
E como Rosa
nasceu com as musas, Rosa viveu com a arte, Rosa não desistiu.
Aos 83
anos, encontrou seu jeito. Com as histórias que viu e viveu, com os artistas que
conheceu, com os espetáculos que amou, ela escreveu um livro sobre sua
casa-Teatro. Assim e por fim, os dois ficaram outra vez e para sempre unidos, e
Rosa está feliz.
(Texto
feito a partir da reportagem,”Filha única do Teatro Municipal”, de Fernanda
Aranda, publicada no Caderno Metrópole, do Estado de São Paulo, dia 16 de
agosto, 2009)
“A
Teta Assustada”
Esse é o nome de um filme peruano que passou recentemente aqui em São Paulo. Não
teve sucesso de público. Na sessão a que assisti, éramos apenas três:
coincidentemente, mulheres.
O filme é de uma mulher, Claudia Llosa.
Conta a história da filha de uma camponesa dos Andes. Sua mãe, já com ela em
gestação, foi estuprada por soldados nos anos de violência que aconteceram no
Peru recentemente, entre os guerrilheiros do Sendero Luminoso e as Forças
Armadas.
A filha, agora vivendo como migrante em uma favela de Lima, é uma moça que tem
medo. Um medo paralisante que a imobiliza socialmente: enfermidade que seu povo
chama de “teta assustada”, conseqüência do leite sofrido com que a mãe a
amamentou.
O médico que a trata em Lima diz que tal enfermidade não existe. Os médicos que
freqüentam este site certamente terão algo a dizer a respeito.
Seja como for, no entanto, essa é uma maravilhosa metáfora para dizer que
através do leite, a mãe passa para os filhos também seus sentimentos.* Leite
aqui significando leite mesmo e significando também a entranhada desesperança
que a mãe transmite para a filha no modo como a cria, na tristeza com que a
cria, no sofrimento da vida dura em que a cria.
O filme é falado em quéchua – e tenho quase certeza de que é o primeiro longa
passado em nossos cinemas falado no idioma profundamente musical dos Andes, tal
como é profundamente musical a cultura andina. Em um “insight” que por si só já
vale o filme, essa musicalidade é mostrada de maneira deslumbrante: a mãe e a
filha só conversam cantando. É cantando que a mãe lhe narra o estupro. É
cantando que a filha assustada tenta afastar seu pavor do mundo.
O Peru é um país onde duas culturas fortes se enfrentam desde a época da
Conquista. Quando chegaram, os espanhóis encontraram um povo com uma sociedade
estabelecida e uma cultura forte e riquíssima. Não tiveram pejo: massacraram o
quanto puderam até conseguir impor a cultura espanhola literalmente por cima
dos fundamentos da economia e da cultura inca. Por cima porque não
conseguiram destruí-la e integrá-la nunca foi exatamente o objetivo. A sociedade
peruana de hoje ainda é marcada pelo forte embate entre essas duas culturas, a
de cima tentando manter a de baixo sempre embaixo, por mais violência que seja
preciso.
A sorte – não só para os peruanos mas para todos nós – é que o instinto de vida
do ser humano costuma resistir. E com o lirismo, poesia e solidariedade, esse
instinto tem conseguido, no Peru, enfrentar os tempos violentos e as
adversidades.
*com a licença da Maria José, o grifo é meu (Isabel). A amamentação é uma das
garantias da evolução do ser humano. Por ela, a mãe passa também ao bebê as suas
imunidades adquiridas. Gostaria (e a Maria José também) de receber algum
comentário médico sobre isso.
COMO VIVER EM UMA SOCIEDADE EVOLUÍDA
ou
COMO APRIMORAR UMA HABILIDADE ANCESTRAL
Outro dia, um amigo Ph.D em Filosofia, David Livingstone Smith, fez uma
descoberta tão óbvia que parece a de Colombo ao colocar o ovo em pé.
“A evolução
seleciona as características que são mais vantajosas do ponto de vista da
sobrevivência – ele diz, reafirmando Darwin, e acrescenta: - A mentira é uma
delas.”
É por que
as mentiras são – e sempre foram – vantajosas do ponto de vista da sobrevivência
do ser humano que ela é hoje uma característica da espécie.
Faz parte
do equipamento mental que o ser humano adquiriu e vem aprimorando na luta pela
sobrevivência. Mentir, dissimular, ocultar é parte necessária para a preservação
da espécie.
Depois que
é dito, isso parece tão verdadeiro que não necessita de explicações. Como o ovo.
David é
radical, no entanto: afirma que mentir é tão natural quanto respirar, caminhar,
falar e fazer sexo. Argumenta e mostra (brilhantemente!) como a evolução da
estrutura do cérebro humano vem desenvolvendo essa necessidade de mentir para
sobreviver. Há milhões de anos.
Não é a toa
que alguns mentem superlativamente bem!
A questão,
portanto, é que para sobreviver, conseguir trabalho, se dar bem com os amores e
os amigos, e não enlouquecer, é preciso mentir mais e melhor.
Alguns
exemplos iniciais
No começo,
evidentemente, a habilidade de mentir ainda não estava muito bem treinada. Por
isso quando Deus perguntou:
“Eva, foram
vocês quem morderam essa maçã?”
Ela se
ruborizou, titubeou e olhou desesperada para Adão, que fingiu estar olhando para
outro ponto distante, justamente do lado oposto. Por essa reação típica de
péssimos mentirosos, iniciantes, Deus nem precisava da denúncia da serpente para
saber que os dois estavam mentindo.
Corolário:
se a capacidade de mentir já estivesse evoluída neles como hoje está em nós,
ainda estaríamos na vida mansa.
Já Caim,
cujo treinamento foi um pouco mais extensivo, se saiu melhor, e quando Eva,
distraída, perguntou:
“Filho:
quem está gritando assim como um alucinado com dores lancinantes não é Abel?”
Ele,
tranqüilo, pegou seu pedaço de carne crua e falou de boca cheia (os hábitos à
mesa também estavam no começo de sua evolução):
“Abel está
dormindo, mãezinha. Esses gritos são da mulher do macaco aí do lado. Os dois já
estão brigando de novo.”
Mais tarde
(ou terá sido antes? Qual foi mesmo a era em que Adão e Eva viveram? Pleistoceno
Superior?), os gritos de “Não fui eu!”, “Não fui eu!”,
correram mais do que dinossauros e mamutes pelos campos da nossa pré-história.
Quem soube
convencer o outro, sobreviveu.
A situação
de hoje
A história
do nosso mundo está repleta de exemplos assim: mentiras que deram certo, outras
que deram errado, no meio de toda a confusão, ruído e fúria que trouxe o ser
humano incólume (foi?) até o século XXI.
A verdade é
que essa luta do mais forte por um lugar ao sol tem dado resultados
questionáveis, mas não por culpa da mentira que vem se aprimorando bastante no
decorrer desses milhões de anos.
Continua
sendo uma bela vantagem quando bem usada. Continua ajudando a espécie humana a
manipular seu grupo social, como ajudou nossos ancestrais.
Os bons
mentirosos foram os que conseguiram – e conseguem - melhores salários, mais
status, cônjuges com mais saúde (por que comem e se cuidam mais) e filhos cheios
de aptidões evolutivas (idem).
Os
vencedores sempre souberam mentir mais e melhor.
Mesmo no
caso da mera sobrevivência, a convivência humana sem a mentira seria não só
insuportável, como impossível.
Já
imaginou se você dissesse a verdade para todos que encontrasse e a recíproca
fosse verdadeira? Quanto tempo levaria para você desistir de tudo e correr para
se internar no primeiro hospício?
Meu
objetivo aqui, portanto, é apenas fazer você entender melhor essa sua habilidade
congênita – se é que você está precisando de alguma lição sobre isso.
Se estiver,
preste atenção.
As mentiras
se subdividem em duas categorias básicas.
A mentira
defensiva, totalmente darwiniana: é a mentira inocente. A que se pratica desde o
berço e é muito bem treinada na infância, quando a cada pergunta de “Quem foi
que fez isso?”, o pequeno indivíduo em formação responde com a cara mais
inocente do mundo, “Não sei.”. Em geral, não machuca ninguém e apenas evita que
aquele que a usa passe por um mau pedaço. O problema começa quando a criança
cresce e tem que se defender das conseqüências de suas próprias mentiras. Aí,
talvez, comece a perder seu ar inocente, ou talvez não. De qualquer maneira, é
sempre usada na defesa e não no ataque.
Já a
mentira agressiva é aquela praticada pelo conquistador. É a que tenta justificar
a aniquilação do mais fraco. É a que Bush, por exemplo, usou e abusou para
invadir o Iraque. É das mais populares entre os países, mercados e campos e
locais de trabalho, como você já deve ter percebido.
Quanto à
forma, as mentiras se subdividem em duas modalidades: a deliberada e a
inconsciente.
A mentira
deliberada é difícil para alguns e, para outros, facílima. Os menos capacitados
nessa escala de evolução, mesmo depois de todo o treinamento da espécie, ainda
hoje não são lá grande coisa na forma da mentira deliberada: gaguejam, se
ruborizam (como Eva), fazem cara de quem acabou de chegar ali naquele instante e
tentam simular não ter a menor idéia do que é que está se passando (como Adão).
Na maior parte das vezes, se dão mal.
A mentira
inconsciente é, verdadeiramente,
a mais ancestral. Tão ancestral que faz parte do funcionamento da nossa
psique. É aquela que você já nem sabe mais que é mentira. É a mais convincente e
também automática, explica David. É, por exemplo, a resposta do “Tudo bem” à
pergunta de “Bom dia, como vai?”
Em geral
funciona a contento e tem um inegável papel no equilíbrio social: já pensou se
você pára a pessoa que lhe fez a automática pergunta com ar de grande simpatia,
e lhe conta todo o drama que vem enfrentando nesse seu dia? Provavelmente, nunca
ouvirá mais essa pergunta partindo dele: o pobre fará de tudo para jamais se
aproximar de você outra vez.
Quanto à
sua utilidade para a espécie, as mentiras se subdividem também em duas: para os
outros e para si mesmo.
É verdade,
a mentira para si mesmo existe, e não é nem a mais difícil. É o conhecido
auto-engano, aliás, a condição para sua boa saúde mental. É a que evita que você
fique (completamente) louco. Em geral, diz David em sua tese, os deprimidos são
os que têm essa habilidade pouco desenvolvida.
Já a
mentira para os outros é a clássica, a que lhe permite viver seu dia-a-dia sem
provocar grandes desastres, ruínas e, em certo nível, a própria destruição da
sociedade (pelo menos da sua).
Sugestões
para seu aprimoramento
Agora, a
parte boa: como aprender a mentir mais e melhor.
Já que
mentir é uma habilidade congênita, algumas pessoas a têm bem mais desenvolvida
do que outros. Desnecessário dizer que a classe política se sobressai nesse
aspecto. Mas na espécie em evolução, como um todo, os mecanismos da dissimulação
e falsidade são continuamente aprimorados.
Exemplos da
sofisticação desses primores podemos ver todos os dias a toda hora em todos os
lugares. Jornais, TVs e encontros sociais são entretecidos por eles.
Para ter
lições práticas, portanto, e se aprimorar, é fácil: basta olhar com atenção para
o mundo a sua volta.
Foi assim
que, hoje, por exemplo, fiz uma nova aquisição evolutiva apenas observando um
dos nossos próceres do momento. O prócer que, ao ser pego publicamente em uma
mentira, não titubeou nem se ruborizou como Eva, mas apenas se justificou, com
cara de ofendido, afirmando não ter “se apegado à acepção estrita” do termo que
inicialmente usou. (Importante! A cara de ofensa e ultraje é condição
necessária para se fazer a correção de uma versão dada anteriormente.)
De fato,
uma pérola de sofisticada lapidação.
Depois
dessa, acredito, qualquer outra lição torna-se, pelo menos por hoje,
desnecessária.
Para
finalizar, um pequeno teste de compreensão.
O texto que
você acabou de ler contém pelo menos uma mentira deliberada e provavelmente
várias mentiras inconscientes.
Quem
detectá-las, concorrerá a um prêmio, caso se dê ao trabalho de enviar o
resultado para esta editora.
Só não vale
me chamar de cínica, pois não o sou. Não passo de um mero indivíduo do gênero
feminino de nossa evoluída espécie.
Texto
publicado na coletânea “35 segredos para chegar a lugar nenhum”, organizado por
Ivana Arruda Leite, Ed. Bertrand Brasil.
|




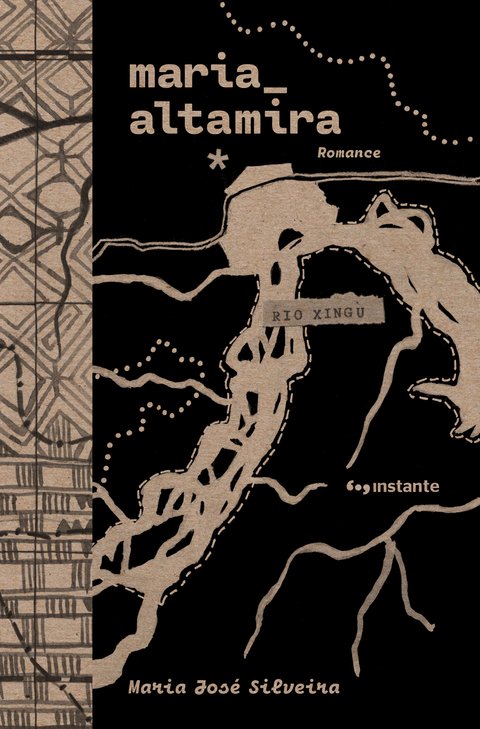

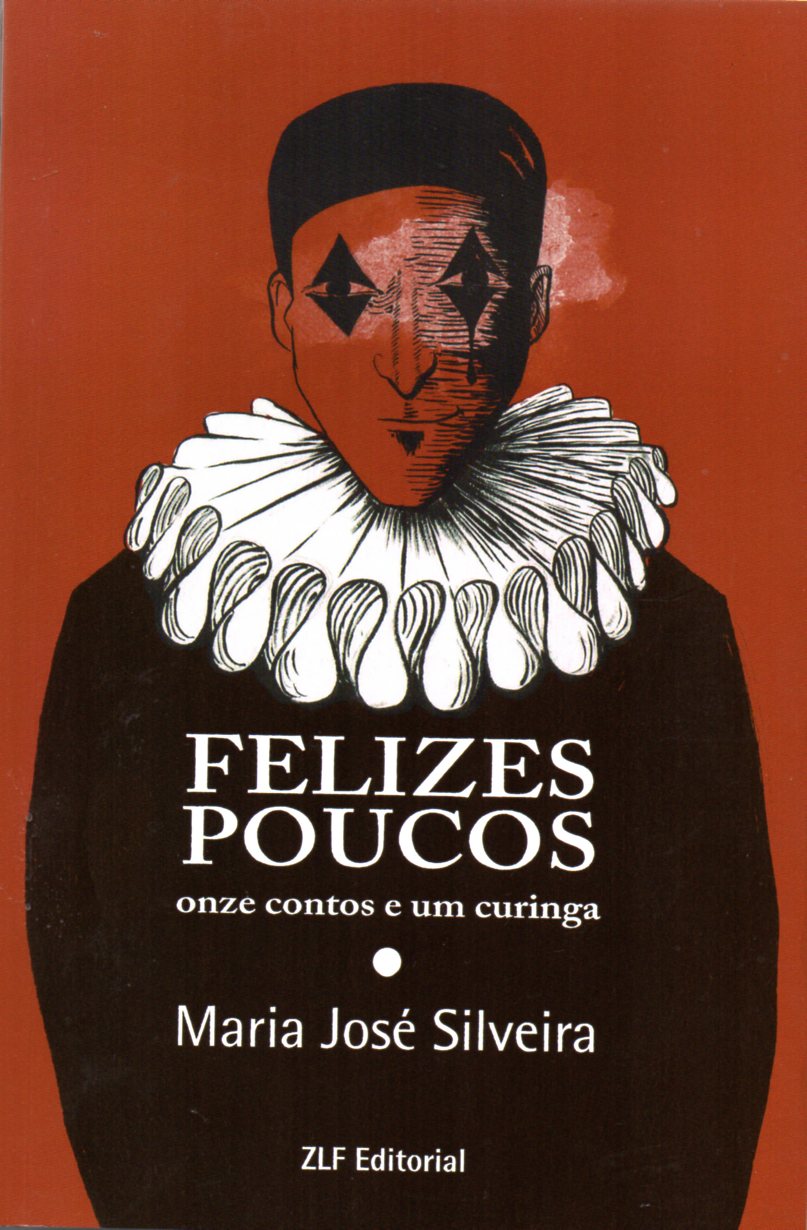
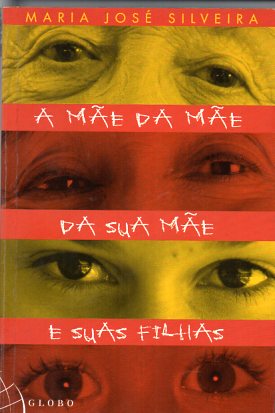
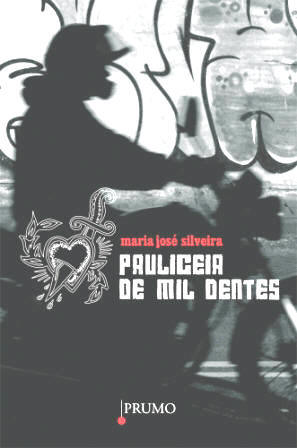
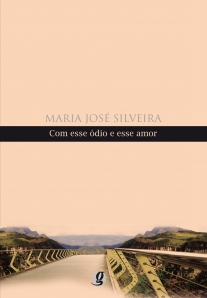
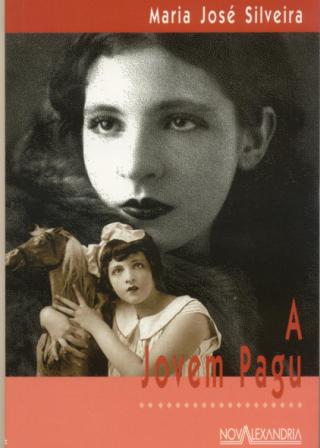
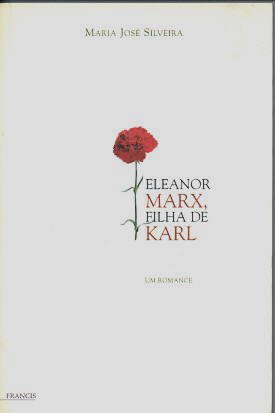
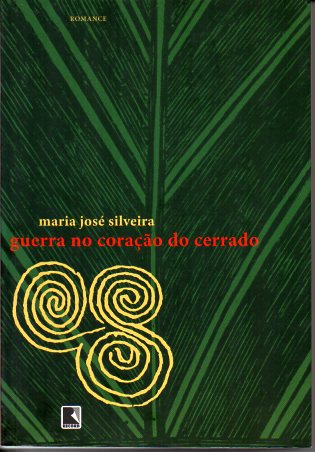
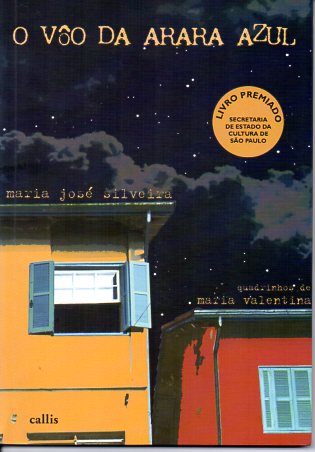
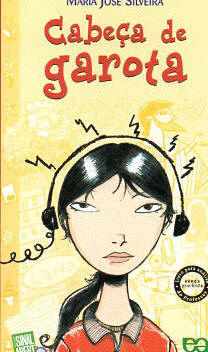



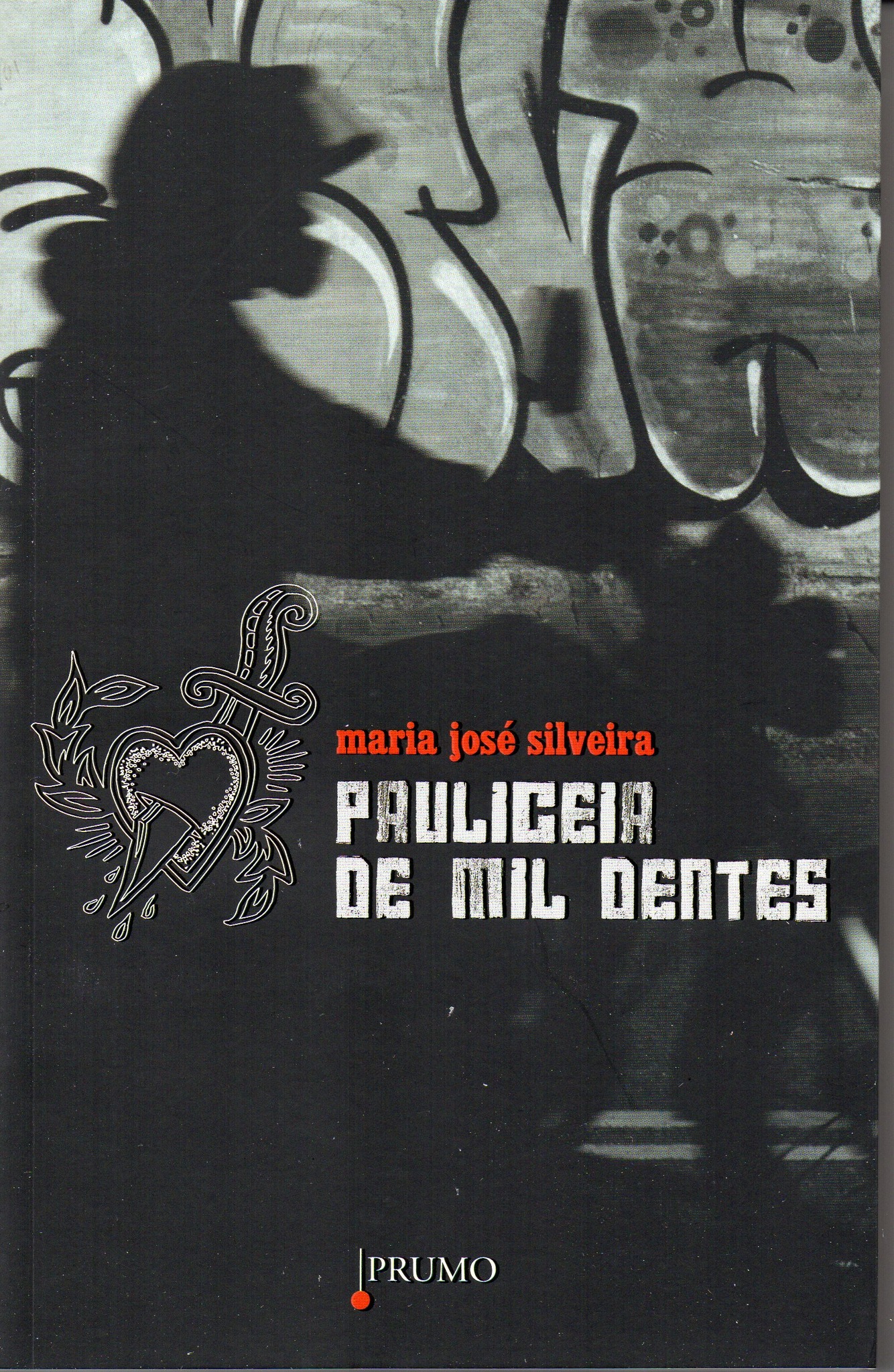






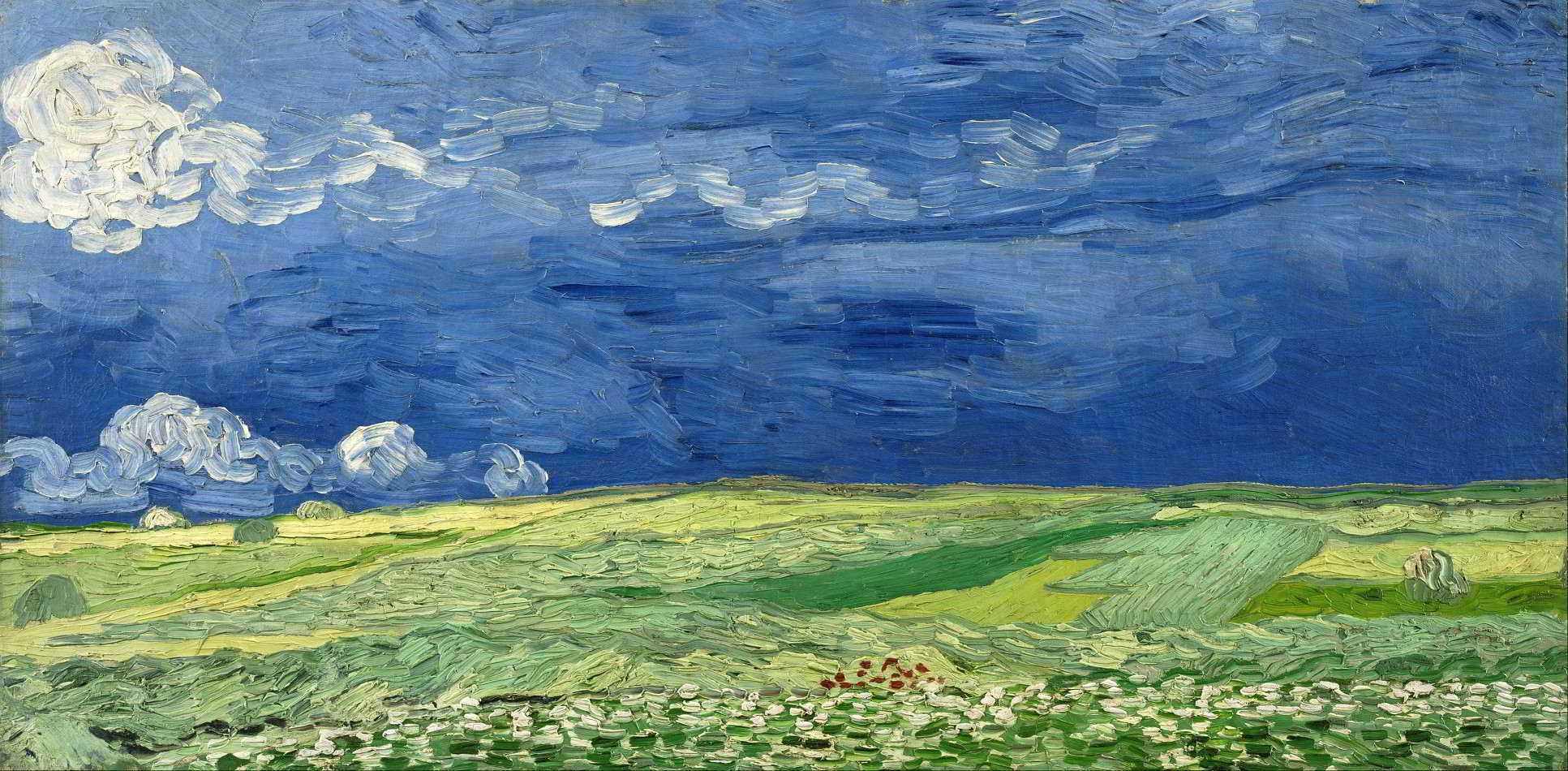




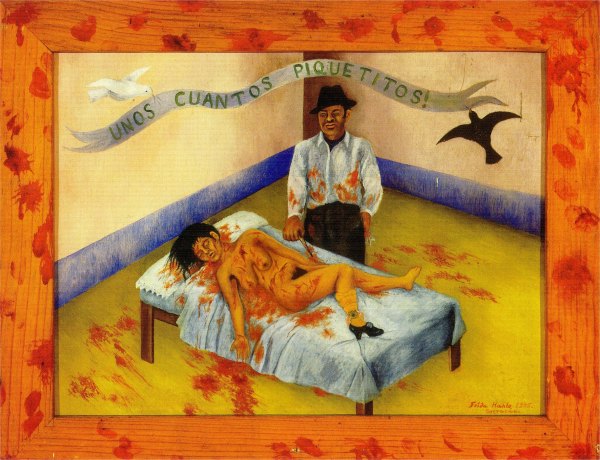



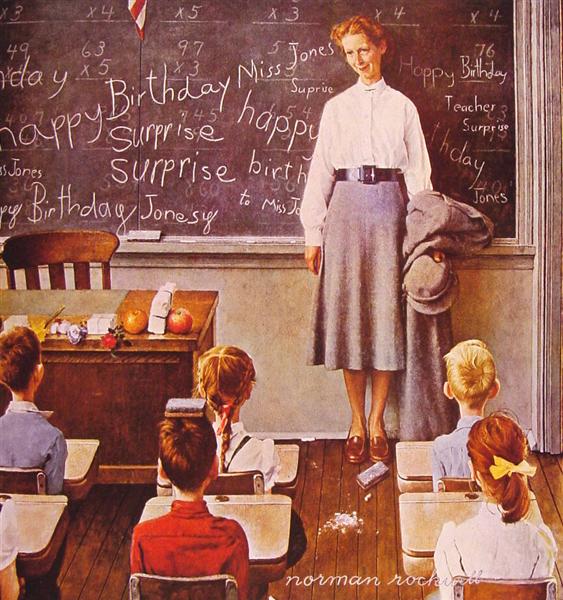






.jpg)
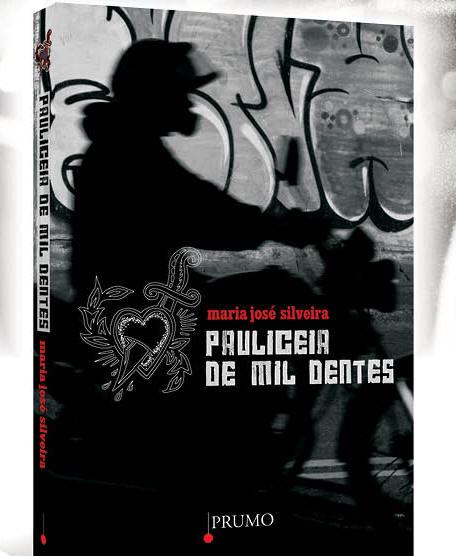
 As duas caminham sossegadas chupando sorvete. Vão
de shorts, alegrinhas, conversando.
As duas caminham sossegadas chupando sorvete. Vão
de shorts, alegrinhas, conversando. 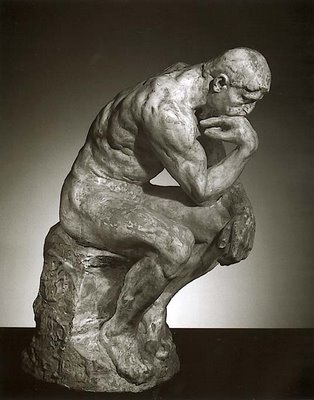
.jpg)
.png)

 Gosto
de ver estatísticas. Algumas trazem resultados que sacodem o senso comum no qual
estamos afundados.
Gosto
de ver estatísticas. Algumas trazem resultados que sacodem o senso comum no qual
estamos afundados.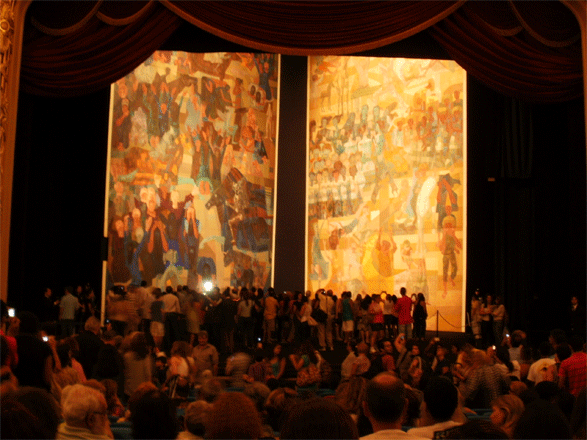 “Guerra
e Paz”, de Portinari, está viajando pelo Brasil.
“Guerra
e Paz”, de Portinari, está viajando pelo Brasil.


 Olhando
de longe, dá gosto vê-los. Parecem, eu não diria contentes mas tranquilos,
desfrutando de um jeito prazeroso a manhã de sol. Acordaram cedo, tomaram seu
café, assistiram o jornal matutino da tevê, fumaram um dos cinco cigarros do
dia, e agora estão lá, na sombra das árvores da pracinha, sentados nos
banquinhos de cimentos frente à mesinha, preparando as peças do dominó.
Olhando
de longe, dá gosto vê-los. Parecem, eu não diria contentes mas tranquilos,
desfrutando de um jeito prazeroso a manhã de sol. Acordaram cedo, tomaram seu
café, assistiram o jornal matutino da tevê, fumaram um dos cinco cigarros do
dia, e agora estão lá, na sombra das árvores da pracinha, sentados nos
banquinhos de cimentos frente à mesinha, preparando as peças do dominó.

 Não
são exatamente “telhados brancos” e, sim, tecnicamente falando, “telhados frios”
- o que a Câmara Municipal de São Paulo vem debatendo atualmente para um projeto
de lei.
Não
são exatamente “telhados brancos” e, sim, tecnicamente falando, “telhados frios”
- o que a Câmara Municipal de São Paulo vem debatendo atualmente para um projeto
de lei.  Não
que ela fosse exatamente bonita, mas era a casa da nossa avó, parte integrante
da infância de cada um dos seus 49 netos.
Não
que ela fosse exatamente bonita, mas era a casa da nossa avó, parte integrante
da infância de cada um dos seus 49 netos. Pela
entrada lateral – em cuja parede branca a cada ano incrustávamos nossos nomes e
nossa pequena história – chegava-se à sala com imponente cadeira almofadada em
que se sentava
Pela
entrada lateral – em cuja parede branca a cada ano incrustávamos nossos nomes e
nossa pequena história – chegava-se à sala com imponente cadeira almofadada em
que se sentava  Eva
se olhou no espelho.
Eva
se olhou no espelho.



 A
programação musical é o carro-chefe no evento que tem as mais variadas atrações
e vira um encontro dos cidadãos e artistas de diferentes tribos e linguagens
(erudita, popular, sertaneja, eletrônica, vanguarda, experimental). Artistas
internacionais, nacionais, locais. Teatro, ópera, circo, humor, luta livre,
comédia, mágicos, acrobatas, pole dance, exposições. Rap, forró, tango,
samba-enredo e a maior bateria de escola de samba jamais vista, com mais de mil
ritmistas.
A
programação musical é o carro-chefe no evento que tem as mais variadas atrações
e vira um encontro dos cidadãos e artistas de diferentes tribos e linguagens
(erudita, popular, sertaneja, eletrônica, vanguarda, experimental). Artistas
internacionais, nacionais, locais. Teatro, ópera, circo, humor, luta livre,
comédia, mágicos, acrobatas, pole dance, exposições. Rap, forró, tango,
samba-enredo e a maior bateria de escola de samba jamais vista, com mais de mil
ritmistas. Como nada nasce de si mesmo, a inspiração
do evento veio de Paris e sua Nuit Blanche, e fico imaginando que é o
tipo da ideia que poderia ser replicada em várias capitais, cada uma de seu
jeito específico. Deve dar um trabalho danado essa organização, com certeza é
necessário uma boa verba – que infelizmente poucas secretarias de cultura de
nossos municípios têm - mas ocupar os espaços públicos com arte de vários tipos
e feitios é realmente uma coisa bonita.
Como nada nasce de si mesmo, a inspiração
do evento veio de Paris e sua Nuit Blanche, e fico imaginando que é o
tipo da ideia que poderia ser replicada em várias capitais, cada uma de seu
jeito específico. Deve dar um trabalho danado essa organização, com certeza é
necessário uma boa verba – que infelizmente poucas secretarias de cultura de
nossos municípios têm - mas ocupar os espaços públicos com arte de vários tipos
e feitios é realmente uma coisa bonita. 
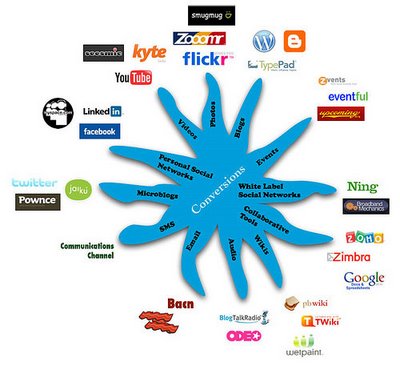 Sou
fascinada com as redes sociais.
Sou
fascinada com as redes sociais.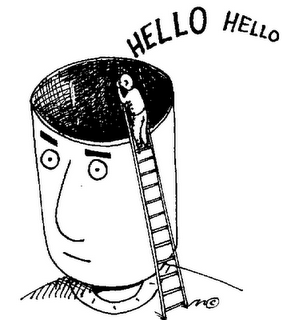 Uma das coisas aborrecidas da vida é conversar com pessoas que tendem a
generalizar o que veem e vivem em seu pequeno mundo. O mundo maior, o outro,
aquele que é o de todos nós, é pseudo compreendido a partir de sua restrita
experiência pessoal. São pessoas que elevam o senso comum a uma teoria geral. As
aparências à força da verdade.
Uma das coisas aborrecidas da vida é conversar com pessoas que tendem a
generalizar o que veem e vivem em seu pequeno mundo. O mundo maior, o outro,
aquele que é o de todos nós, é pseudo compreendido a partir de sua restrita
experiência pessoal. São pessoas que elevam o senso comum a uma teoria geral. As
aparências à força da verdade. 


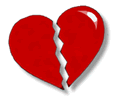

 Duas
proezas.
Duas
proezas. A
primeira parou várias ruas de Nova York, numa manhã do verão de 1974.
A
primeira parou várias ruas de Nova York, numa manhã do verão de 1974.  A
segunda proeza aconteceu maio passado, na Virada Cultural, em São Paulo.
A
segunda proeza aconteceu maio passado, na Virada Cultural, em São Paulo.
 Nair Benedicto, fotógrafa reconhecida e premiada, está expondo, no Centro Cultural
Vergueiro, São Paulo, algumas fotos especialmente escolhidas para compor um
apanhado de nossa época: a década de 70 aos dias de hoje.
Nair Benedicto, fotógrafa reconhecida e premiada, está expondo, no Centro Cultural
Vergueiro, São Paulo, algumas fotos especialmente escolhidas para compor um
apanhado de nossa época: a década de 70 aos dias de hoje. 
 Depois da morte de Jean-Maurice, Tebereté foi tomada como esposa por Poatã, o
guerreiro das mãos fortes, um herói da tribo. E quando a filha nasceu, a filha
que já estava em seu ventre, a filha de Jean-Maurice, o heróico inimigo, foi o
pajé que escolheu seu nome.
Depois da morte de Jean-Maurice, Tebereté foi tomada como esposa por Poatã, o
guerreiro das mãos fortes, um herói da tribo. E quando a filha nasceu, a filha
que já estava em seu ventre, a filha de Jean-Maurice, o heróico inimigo, foi o
pajé que escolheu seu nome. A
A 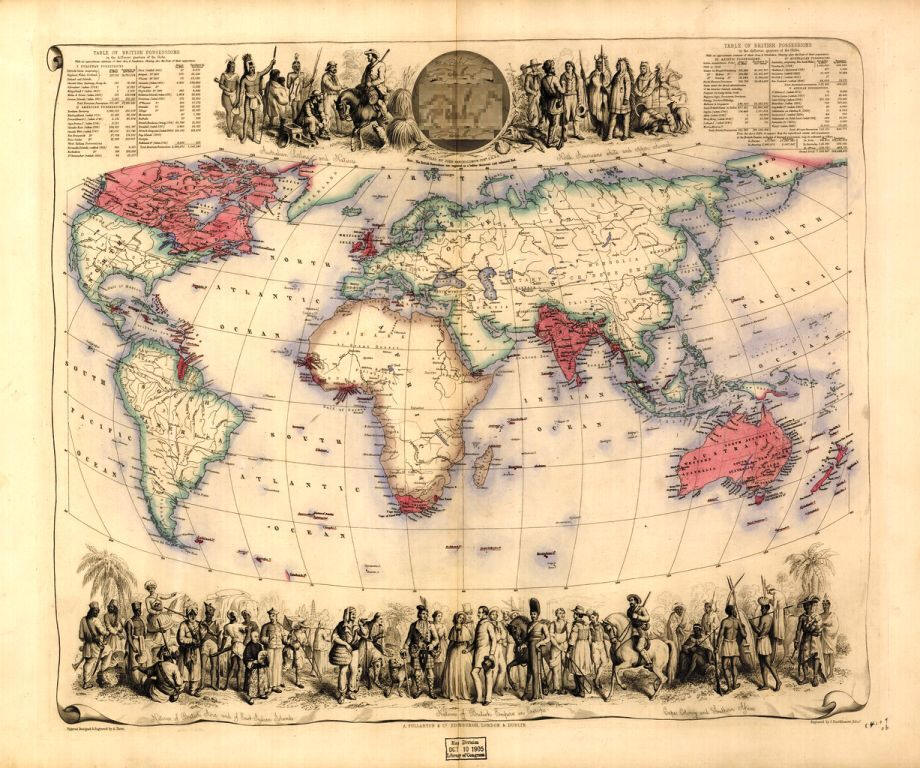
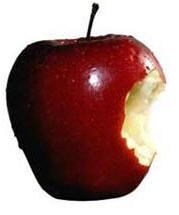 1.
DECLARAÇÃO
1.
DECLARAÇÃO
 Carta
anônima? Àquela altura de sua vida?
Carta
anônima? Àquela altura de sua vida? 