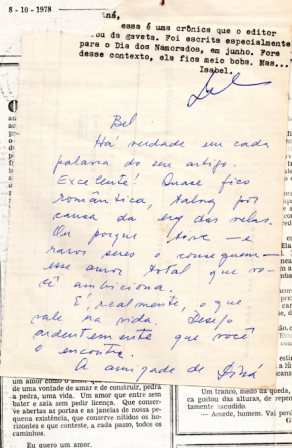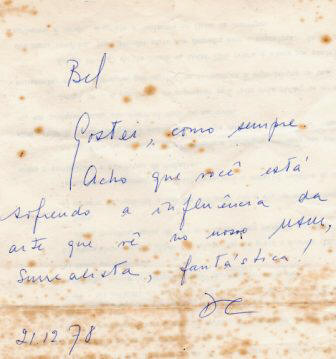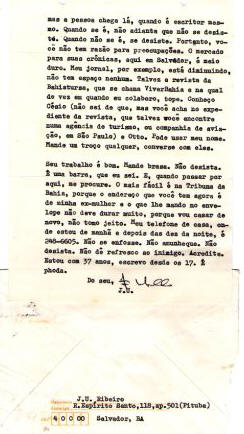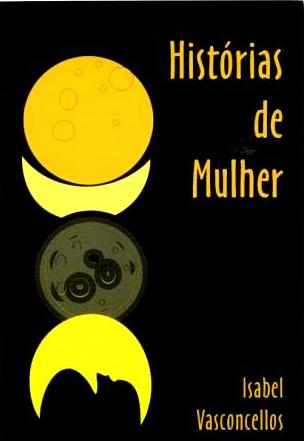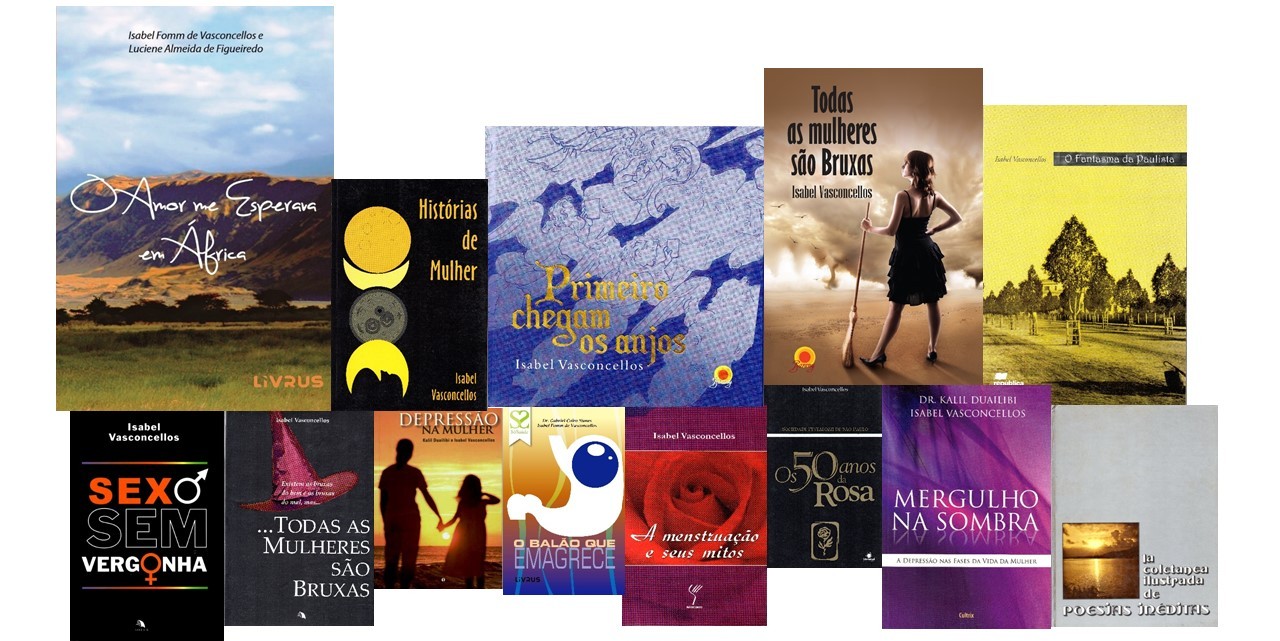O Dia em que Eu Virar Best-Seller.
Diná, em sua mesa de trabalho

Catálogo da Exposição "19 Pintores", São Paulo, 1947

Clique nos bilhetes e na carta para ampliar.
Links para
artigos citados:
* Viagem à Bahia
Como escapei...
** Carta João Ubaldo e bilhetes Diná
*** 30 anos de TV
**** Uma coleção de perdas
LEIA trechos dos livros inéditos:
O Espelho Capítulo 25
O Amor me Esperava em África
Conheça todos os meus livros:
memória de Isabel Fomm de Vasconcellos
(Para Diná Coelho)
Sempre escrevi. Mesmo antes de ser alfabetizava criava enredos para as
minhas brincadeiras infantis.
Na escola, escrevia para o jornal mural, a despeito de terem recusado as
minhas matérias no jornalzinho de alunos, dominado pelos garotos (e não
pelas garotas) do colégio. Até hoje, aliás, esse jornalzinho existe,
creio que só na Internet, editado pelo mesmo Sergio de sempre. A ele,
meu profundo ressentimento... Também escrevi para jornais das faculdades
que cursei.
Em 1967, quando completei 16 anos, meu pai me mandou procurar um
emprego. Assustada, pensei que ele estava mal financeiramente e ele me
disse: “É porque você precisa trabalhar, ter seu próprio dinheiro, sua
independência. Você não é o tipo de mulher que vai querer depender de um
marido”.
E
lá fui eu. Virei repórter comercial do jornal do meu bairro, o Jornal do
Brooklin. Mais tarde fui também fotógrafa e crítica de cinema do mesmo
jornal, onde trabalhei até 1974, quando fui morar em Salvador, na Bahia
(já contei essa história aqui nas minhas memórias*)
e me tornei redatora publicitária, depois de um estágio na maior agência
do Nordeste, a Propeg. Também, ainda em Salvador, trabalhei como
produtora de rádio e TV, além de redatora, para outra agência, que não
existe mais, e cujo um dos sócios era o escritor João Ubaldo Ribeiro,
que muito me incentivou a escrever. (veja uma das cartas dele para mim,
em 1978 **).
Voltei para São Paulo em 1976 e fui trabalhar, como redatora, com o
famoso publicitário (e poeta) Zaé Jr., que tinha aberto sua própria
agência. Em 1976, ainda, publiquei meu primeiro livro, na verdade, sete
poemas numa coletânea de poetas inéditos, para a qual fui selecionada e
cuja edição foi bancada pelos editores e não pelos editados, como hoje é
tão comum, passando a impressão de que o dinheiro, nesses casos, fala
mais alto do que o talento.
Foi justamente por isso que me recusei, sempre, a pagar pelas edições
dos meus livros e continuei inédita por longos 24 anos. Inédita, nos
livros apenas, porque comecei a publicar crônicas assinadas num
importante jornal paulista da época, em 1977, O Diário Popular,e escrevi
para eles até 1984, quando a televisão me absorveu por completo.
Mas essa, a da TV, é uma história que já contei aqui também***.
Colaborei, ainda, com várias revistas e órgãos da imprensa escrita, em
São Paulo e em outras capitais. Sou co-autora de uma única peça de
teatro, encenada nos anos 1990, e escrita em parceira com minha afilhada
Mônica Krausz e mais 7 amiguinhas dela, quando elas eram crianças, e
depois adaptada para o palco pela própria Mônica.
Agora, no entanto, eu quero falar de 1978. Um hiato profissional que
aconteceu na minha vida, para que eu pudesse ter o privilégio de
conviver com uma mulher maravilhosa, única, quarenta anos mais velha do
que eu, na verdade, nascida no mesmo ano que a minha própria mãe, 1912.
No final de 1977 briguei feio com Zaé Jr. (que, mais tarde, se tornaria
um grande amigo), saí da agência e comecei a procurar outro emprego de
redatora. O mercado não estava pra mim. Um dia, vi no Estadão um
anunciozinho que pedia uma secretária para o MAM, o Museu de Arte
Moderna, no parque Ibirapuera. Meio período. Salário quase igual ao que
eu recebia como redatora e a possibilidade de viver no meio das artes
plásticas, uma novidade irresistível para mim, sempre fã da arte. O que
eu não podia sequer imaginar é que lá, no MAM, encontraria uma das mais
amadas amigas que passaram pela minha vida.
Ganhei o emprego no processo de seleção e comecei a trabalhar em janeiro
de 1978. O administrador, que me contratou, disse que eu deveria ter
muita paciência com a “velhinha exigente” que dirigia o Museu. A
“velhinha exigente” era ela. Eu gostei dela no primeiro momento em que a
vi e nossa relação profissional acabou evoluindo rapidamente para uma
relação pessoal, de amizade e companheirismo, a despeito de nossa enorme
diferença de idade.
Diná Lopes Coelho, antes Ricardina Mendes de Almeida, foi a grande
executiva, ao lado de Ciccillo Matarazzo, na criação da Bienal de São
Paulo, e também na criação do próprio Museu de Arte Moderna, em 1948,
quando ele começou a funcionar na Rua 7 de Abril, no centro da capital
paulista.
Crítica de arte respeitada, era a esposa do importante intelectual e
jurista Canuto Mendes de Almeida (irmão do conhecido clérigo Dom
Luciano). O casal, da elite paulistana, recebia as maiores figuras da
vida política e cultural do Brasil e até do mundo. Diná mantinha um
caderninho de lembranças (que vi, extasiada, no apartamento dela, em
1980), com escritos de próprio punho, que iam de Getúlio Vargas a Érico
Veríssimo, passando por inúmeros grandes nomes da nossa história.
Mas, um dia, Diná conheceu o escritor (e também jurista) Luís Lopes
Coelho. Foi amor à primeira vista, ela me disse, e então, num ato de
extrema coragem para a provinciana sociedade paulistana dos anos 1950,
disse adeus ao seu casamento privilegiado e foi viver com o escritor.
Hoje não seria nada. Naquele tempo era um escândalo e meio! Diná deve
ter sido o assunto predileto da maledicência e da inveja de grandes
figuras da sociedade paulistana, principalmente as femininas. Posso
imaginar os comentários nos salões de chá, nos cabeleireiros, nos
vernissages...
“ Você viu que horror? A Ricardina Mendes de Almeida largou o marido
para ir viver com aquele escritorzinho de romances policiais baratos...”
Foi assim que, desquitada (o divórcio no Brasil só viria em 1977), ela
adotou seu novo nome: Diná Lopes Coelho e, com esse nome, tornou-se uma
das mais importantes figuras das artes plásticas no Brasil.
No MAM, ela criou os “Panoramas da Arte Brasileira”, mostras coletivas
que existem até hoje e, ano a ano, se alternam entre Pintura, Gravura,
Escultura, onde podem se inscrever artistas iniciantes ao lado de
artistas consagrados, depois de passarem por um processo de seleção.
Muita gente hoje famosa foi revelada pelos Panoramas do MAM, sob olhar
afiado da Diná.
Diná era um espírito evoluído, uma “alma velha” como dizemos nós,
bruxas. Com ela, aprendi muito. Não só sobre a arte, mas sobre a vida.
Quando a conheci, seu amor, Luís (considerado por Otto Maria Carpeaux
como o mais importante contista policial brasileiro até então) já a
deixara havia três anos, morrendo num acidente de carro no Guarujá, no
dia 4 de julho de 1975.
Corajosa, revolucionária, profundamente democrática, a convivência com
ela foi uma benção, naqueles anos em que se enfrentava a censura nas
redações de jornais e eu via bem de perto nascer a autocensura em
jovens, como eu, que poderiam contribuir muito mais para o jornalismo e
para as artes em geral, caso não tivessem uma espada de Dâmocles dentro
do cérebro.
Tínhamos uma rotina, Diná e eu. Pelo menos três vezes por semana,
encerrado o expediente da secretaría do museu, sentávamos no Bar (muito
mais bonito o Bar do MAM, do que ele é hoje. Hoje foi reformado e parece
uma lanchonete americana para hot dog. Naquele tempo era todo de
madeira, lambris nas paredes, um mural de Carlos Paez Villaró, o artista
uruguaio que trouxe ao Brasil o músico Astor Piazzola e se encantou com
a decoração do bar, um projeto do Ciccillo) e, ali, no balcão de
madeira, nos banquinhos altos e com o barman (bartender, hoje), Tavares,
tomávamos a nossa taça de Macul. Depois, Diná dispensava seu chofer –
Quirino – e seu dogde dart, que ele levava para a casa dele próprio e
trazia de manhã para buscá-la em seu apartamento da Avenida São Luiz – e
nós duas saíamos para a noite paulistana em meu humilde fuskinha cor de
areia.
A noite também era muito diferente em São Paulo. Pequenas casas onde se
ouvia o melhor da música popular brasileira e algum jazz de qualidade.
Restaurantes interessantes e frequentados por artistas e jornalistas. O
clube italiano, onde sempre passávamos, alta madrugada, antes de ir
tomar nosso café da manhã, lá pelas 5 horas da manhã, no hotel
Excelsior, bem em frente ao prédio – o Santa Isabel – onde ela morava,
na cobertura, na Avenida São Luiz.
Diná era vizinha de prédio da minha tia Bebé Bitelli, irmã do meu pai.
Bebé morava no Santa Rita. Eram prédios muito chiques nas décadas de
1940 até 1970, na então também muito chique Avenida São Luiz. Nas
paredes da cobertura da Diná, quadros e mais quadros de artistas
brasileiros maravilhosos, como Rebolo, Di Cavalcanti, Portinari, Tarsila
do Amaral, Flávio de Carvalho e outros tantos.
No museu, Diná, com a minha modesta e atenta ajuda, montava suas
exposições. Lembro-me de uma retrospectiva de Arcângelo Ianelli. Antes
da abertura, atendo um telefonema. Era um homem simples que dizia
possuir três quadros de Ianelli, da sua fase figurativa, década de 1930,
e queria ver se eles valiam alguma coisa, pois vira no Estadão uma
matéria sobre o vernissage e percebera que o pintor era o mesmo dos
quadros que ele tinha em casa e aos quais nunca dera nenhuma
importância. Três figurativos Ianelli? Ora, valiam uma fortuna. O homem
queria trocá-los por uma máquina de costura industrial, pois sua mulher
tinha uma oficina de moda. Uma máquina? Os Ianelli valeriam muitas
máquinas, disse-me a Diná. Se eu ou ela fossemos iguais à maioria dos
políticos brasileiros, teríamos dito: mande os quadros para nós e lhe
compraremos a máquina. Em vez disso, dissemos ao homem que os quadros
valiam muito. O próprio pintor os comprou, por um preço justo, para seu
acervo particular.
Um dia, uma grande amiga minha resolveu fazer um curso de escultura.
Começou a esculpir peças interessantes e me pediu que a apresentasse à
Diná. Fomos jantar, as três. Lá pelas tantas a minha amiga perguntou se
a Diná lhe daria a honra de avaliar suas peças. Diná perguntou a ela:
-- Escute, quando você era criança, ia à praia?
-- Ia – respondeu a minha amiga.
-- E você ficava o tempo todo esculpindo figuras com a areia? –
Perguntou Diná.
-- Não, não ficava... – respondeu honestamente, e já sorrindo, a minha
amiga.
-- Bem – Disse Diná, também sorrindo ao perceber que já fôra
compreendida – Então eu não preciso ver o seu trabalho, não.
Contrariando o pensamento dominante numa geração precursora do
“politicamente correto”, Diná reafirmava que o verdadeiro artista já
nasce pronto.
E é verdade. O talento e a vocação são natos, não adquiridos.
Essa nossa convivência boêmia pela noite paulistana, cercada de artistas
e intelectuais, os muitos vernissages, as longas conversas no bar, os
grandes passeios pelo museu fechado, trocando ideias com os próprios
artistas sobre o seu trabalho... Tudo isso durou até o final de 1979
quando a política, que existe em todos os meios, é claro, trocou Diná
por uma generala burocrata e eu tratei logo de arrumar outra agência de
publicidade para trabalhar e fui para a Doxa, do Francisco e do José
Leão de Carvalho.
Minha convivência com a Diná, no entanto, continuou até 1984, ano em que
ela adoeceu e não queria mais que eu a visse pessoalmente, só
continuamos a nos falar por telefone, até que nem mais isso. Também já
contei esse capítulo da história aqui nas páginas de memória****.
Em 2000, uma assessora de imprensa convenceu um editor, desses que faz
livros por encomenda, a me editar sem que eu tivesse que investir. Veio
assim o meu segundo livro, de contos, Histórias de Mulher, que até
conseguiu algum sucesso, de público e de venda.
Daí em diante ficou um pouco mais fácil.
Em 2003, tive uma enorme visibilidade na imprensa com o livro “A
Menstruação e Seus Mitos”, editado pela Mercuryo e que vendeu muito
pouco.
Em 2005, um sucesso de vendas, pela editora mineira Soler, o Sexo Sem
Vergonha, um livro que me foi encomendado pelo editor. Ele queria alguma
coisa no estilo de “os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus” e
eu o convenci a colocar contos de ficção entremeando os capítulos para
conseguir, dessa forma, publicar a minha ficção. A mesma coisa foi feita
em “Todas as Mulheres São Bruxas” que, originalmente, seria editado pela
Mercuryo, pela editora Júlia Bàrány, com quem eu discutira a ideia do
livro, mas acabou sendo pela Soler, no final de 2006.
Alguns anos depois, Julia e eu remodelaríamos esse livro e o lançaríamos
pela sua editora, a Barany, com o mesmo título e 150 páginas a mais:
Todas as Mulheres São Bruxas é o meu livro de venda mais constante, até
hoje está aí, e também o que gerou muitíssimas entrevistas na mídia,
impressa e televisiva.
No meio desse caminho, a República Literária editou o meu “O Fantasma da
Paulista” (campeão absoluto de mídia); a Cultrix e a Segmento editaram
dois livros que escrevi em parceria com o médico psiquiatra Kalil
Duailibi, sobre a depressão nas mulheres – Mergulho na Sombra, da
Cultrix, versão para leigos e Depressão na Mulher, versão para
ginecologistas.
E, por fim, Júlia editou os contos de natal que eu, quase por
brincadeira, escrevo em todos os dezembros, desde 1990: São 15 deles
reunidos num volume lindo, capa dura, ilustrações de Suely Pinotti, com
o título de Primeiro Chegam os Anjos – porque os anjos são os que chegam
primeiro para o Natal... É um livro de contos de Natal para adultos.
Nunca escrevi contos de natal para crianças. Só achei um autor que
escreveu contos de natal para adultos: Pearl S. Buck. Talvez existam
outros, não sei. Sei que esse livro é um dos meus prediletos, junto com
o Fantasma da Paulista e com Todas as Mulheres São Bruxas II.
Bom, mas a essa altura, você deve estar se perguntando o que tem a ver a
trajetória dos meus livros com a Diná Lopes Coelho.
Tem tudo.
Se não fosse a Diná, que lia tudo o que eu escrevia
**, (e eu escrevo
sempre muito, muito mesmo) talvez eu tivesse desistido. Participei de
concursos, mandei originais para não sei quantas editoras e sempre,
sempre, inutilmente.... Comecei a achar que eu era como Van Gogh, só
teria meu talento reconhecido depois de morta. E brincava com isso:
Serão as Obras Póstumas da Isabel.
Mas Diná nunca me deixou desistir. Citava o João Ubaldo, que me
incentivara. Citava minhas crônicas no jornal. Emocionava-se com os
contos que eu escrevia e dava para ela ler, nas folhas datilografadas da
era pré-computador. Para ela, eu nascera para escrever.
Hoje eu tenho 14 livros publicados. Alcancei a marca de 7.500 exemplares
vendidos, em um dos títulos que publiquei (não vou contar qual), o que
parece pouco, mas, para o mercado editorial brasileiro não é pouco.
Tenho vários livros prontos e arquivados inéditos, no computador. Tenho
um outro, que amo de paixão, chamado “O Espelho – ou a História Quase
invisível”, um mega romance que Julia quer publicar, que deveria ter
saído em 2013 e que, até agora, permanece inédito.
Tenho um mais recente, escrito em parceria com a minha amiga virtual,
Luciene Almeida de Figueiredo, que morreu num acidente de carro, em
setembro desse ano (2016), tragicamente, e chama-se “O Amor me Esperava
em África” e que foi, afinal, uma edição financiada pela família dela
já que esse era seu sonho: ter sua história de vida romanceada por mim.
Ainda não sou um best seller, mas serei. Agora, amanhã, ou como diria
Diná, depois de morta, plagiando Van Gogh. Haverá esse dia, ela sabia: o
dia em que vou virar best seller!
Porém, sei que meus livros motivaram e até ajudaram muita gente. Sei
porque recebo o retorno dos meus leitores, como recebi de Luciene o
pedido para que a deixasse inspirar, com sua história de vida, um livro
meu. Ela dizia que o meu Todas as Mulheres São Bruxas era seu livro de
cabeceira, que lia, relia e não se cansava de reler.
Mas tudo isso só aconteceu na minha vida porque Diná me convenceu que eu
era uma escritora nata, assim como o são, natos, os artistas plásticos
que esculpem na areia da praia, quando crianças.
OBS: Meu livro mais querido, ainda inédito, sairá com a
seguinte dedicatória: À Diná Lopes Coelho, crítica de arte brasileira,
meu grande espelho.