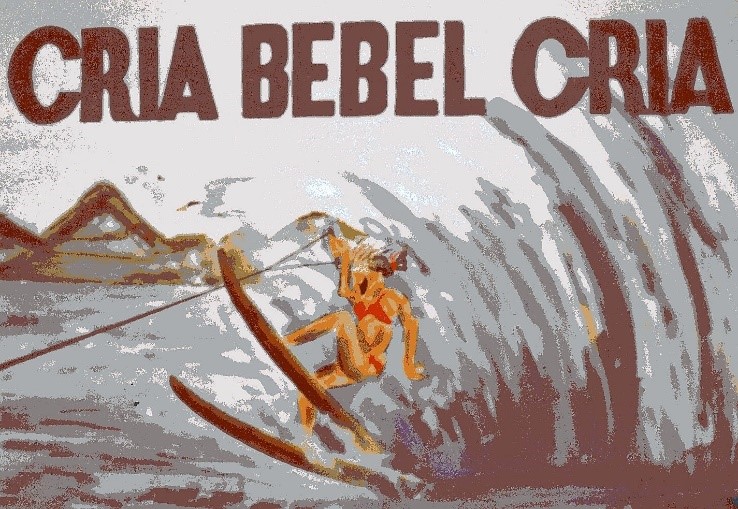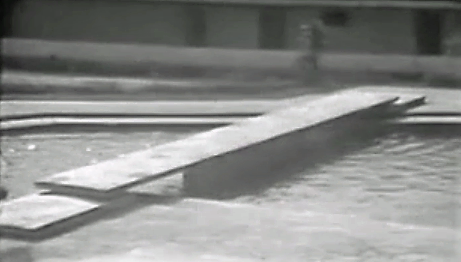|
1.4 - Crescemos com ele
Nadávamos na represa e víamos os poucos barcos do Castelo descerem a
rampa de cimento que avançava água adentro.
Depois, a piscina ficou pronta e, então, quando íamos até a praia, os
barcos – guardados em improvisados barracos de madeira – já não eram
mais poucos. Justificavam a construção de um baita quiosque, no meio da
grama, onde funcionava o bar do Rodrigues.
Seu nome era Hipólito Frutuoso Rodrigues. Um sujeito baixinho, muito
simpático, que fazia a melhor caipirinha das imediações. Isso a se crer
na palavra dos adultos. Levei alguns anos para ter permissão de provar a
tal da caipirinha do Rodrigues.
Nessa época, talvez 1961 ou 62, o salão de festas ficou pronto.
Construído ao lado do Castelo, tinha uma passagem para a sala de vidro,
tem um pé direito enorme e o telhado em forma de pirâmide, as vigas de
madeira no teto, tudo combinando maravilhosamente com o Castelo.
Ali passaria então a funcionar regularmente o restaurante do clube, ali
aconteceriam festas inesquecíveis.... Quem ficou com a concessão do
restaurante? O Rodrigues, é claro, ajudado pelo irmão e um séquito de
cozinheiros. Uma das minhas primas, que morava em Belo Horizonte, cidade
de seu pai, Avani de Almeida Marques, quando estava passando férias
escolares na nossa casa, costumava ir ao clube e se meter na cozinha do
Rodrigues para preparar batidas de amendoim, com todo um ritual de
grandes risadas.
Mais de vinte anos depois, como concessionário do bar e restaurante da
náutica, Rodrigues pilotou a festa de Bodas de Ouro dos meus pais...,
mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez.
O Castelo, assim, estava crescendo. E nós com ele.
1.5 - Um dia, um barco
Eu devia ter uns dez anos quando vejo entrar no escritório do meu pai
uma enorme caixa de papelão com o desenho de um motor de popa: Singer,
40 cavalos... a mesma marca da máquina de costura da minha mãe. Estava
eu acostumada a ver entrarem grandes caixas de madeira pela entrada
lateral da nossa casa, que levava ao escritório e ao laboratório de
cinema do meu pai. Filmar era um processo ótico e químico, bastante
complicado. Exigia várias máquinas, também complicadas. Muitas delas,
meu pai construía, outras, tinha que importar.
Mas aquela caixa não era uma máquina... era um motor... só estava
faltando o barco!
Durante alguns meses, em absoluto segredo, meu pai filmava, em cores, a
construção da lancha que ele encomendara ao Flório, dono de um estaleiro
ali ao lado da Barragem da Guarapiranga, bem no comecinho da avenida do
Socorro.
Era uma lancha incrível, com um design incrível e com uma técnica de
construção mais incrível ainda.
Graças a Deus que temos o filme para provar porque, contando, quase
ninguém acredita.
O casco era feito de ripas de madeira, colocadas sobre uma forma, em
três camadas em sentidos diferentes. Depois lixava-se tudo,
envernizava-se e tirava-se da forma. Pronto. Um barco muito mais leve do
que os pesadões de madeira maciça (fibra de vidro estava para nascer
ainda). Tudo isso eu só vim saber muito depois.
Um dia, meu pai me disse: -- Vamos até a represa.
Fomos. Estávamos de pé na barragem, exatamente como no dia em que, havia
dois anos, ele me mostrara a torre do Castelo pelo binóculo. Naquele dia
um lindo barco de madeira escura e motor de popa fazia piruetas bem
perto de nós. O seu casco, em V profundo, permitia que ele fizesse
curvas quase a tombar de lado.
-- Nossa! Que legal aquele barco! – Exclamei.
E ele:
-- Você gostou?
-- Gostei!
-- Ótimo. Porque ele é seu.
Era meu. Chamava-se Bebel e depois do Singer 40 teve um motor ainda mais
possante, um Mercury 60. Pode parecer pouco, para os acostumados ao
grande número de cavalos dos motores de centro dos barcos modernos. Não
era. Para uma lancha leve como aquela, perfeito!
Na Bebel uma geração de primos e amigos -- e eu também, claro --
aprendeu a esquiar.
Meu pai tinha 53 anos quando saiu esquiando pela primeira vez. Naquele
tempo, nessa idade, a maioria dos homens se portava como um velho e
cansado avô.
Mas meu pai tinha esse encanto, essa generosidade e uma profunda alegria
em fazer felizes os que estavam por perto. Não apenas os da família, mas
todos, os empregados, os que prestavam eventuais serviços....
Lembro-me o dia em que ele trouxe um funcionário do Jockey Club para a
nossa casa. Um homem humilde. Apresentou-o a nós e disse que o homem era
músico. Meu pai e minha mãe gostavam de fazer música, ela ao piano, ele
no violão, no cavaquinho, na flauta transversal ou no saxofone. Tinha
três saxofones. Naquela noite mostrou-os ao tal músico e perguntou: --
Qual deles combinaria melhor com você? E o homem: -- O dourado. Meu pai
disse apenas: -- OK.
Pegou o instrumento, colocou no estojo, entregou-o a ele e disse: --
Então ele é seu. Pode levar.
Foi a primeira vez que vi um homem com lágrimas nos olhos.
-- Mas, seu Vasco, eu não tenho como pagar ao senhor por um instrumento
desses...
-- Pagar o que? É um presente.
Era assim o meu pai. A alegria dos outros o gratificava.
As crianças e os bichos se aconchegavam perto dele. O Velho Vasco, o tio
Alfredo, era o querido de todos. E não era diferente com os empregados
do Castelo. O clube ficava fechado às segundas feiras, como era o
costume da época. Mas ele, que era o Diretor de Patrimônio, ia lá. Era o
dia em que checava tudo, até os trincos das portas, trincos de vidro,
que deveriam estar sempre brilhando... Ás vezes eu ia com ele, aprendi
então a sua maneira de relacionar-se com seus subordinados. Se era
exigente para com o cumprimento das tarefas, era também atencioso e
sempre procurava saber um pouco da vida de cada um deles. Todos o
amavam.
Também era às segundas-feiras que, nos dezembros, ele organizava a festa
de Natal dos funcionários. Havia presentes para as crianças e até eu,
numa dessas ocasiões, me vesti de Papai Noel para entregar os mimos aos
filhos dos empregados.
1.6 - O Castelo, a TV e
a esnobada no Jô.
Em 1960, graças a uma lei
protecionista do Jânio Quadros, todos os produtores de cinema corriam
atrás de roteiros para séries brasileiras de TV; só uma vingou: a famosa
"Vigilante Rodoviário" de Alfredo Palácios.
A Vascotécnica Filmes, empresa de
meu pai, começou a produzir duas séries.
Uma, com Tarcisio Meira e Anik
Malvil, como protagonistas, direção de Antunes Filho, ficou com seu
primeiro episódio quase pronto.
A segunda, ficou só papel.
Todos os produtores pararam suas
séries quando Jânio renunciou à presidência do Brasil e a lei
protecionista caiu junto com ele. Naquele tempo, um episódio nacional
sairia por X dólares, mas as series estrangeiras saiam por X/3... só
mesmo com a lei!
No entanto, a segunda série que meu
pai e meu irmão Alvan estavam preparando seria toda filmada no Clube de
Campo do Castelo.
Assim, a menina que eu era em 1961,
acompanhava de perto os movimentos dos artistas e fui com toda a equipe
examinar de perto os cenários que seriam usados no Castelo.
Os protagonistas dessa série seriam
os estreantes Regina Duarte e Jô Soares, que estiveram no Castelo. Eu
tinha uma caderneta de autógrafos com a assinatura dos grandes nomes da
TV Excelsior, então líder de audiência, onde meu irmão Alvan trabalhava.
Ele me disse, naquele dia: -- Você não vai pegar um autógrafo do Jô? E
eu: -- Imagina, nem sei quem é esse gorducho!
Trinta anos depois, Alvan encontrou
o Jô num vôo da ponte aérea e o convenceu a dar uma das poucas
entrevistas que ele deu na vida para o programa Papo&Repapo, nossa
produção na TV Gazeta. Contei esse lance pra ele e acho que foi por isso
que ele resolveu dar o nome de "Isabel" a uma cachorrinha que ele
tinha... hahaha!
Todos os Comêços
Cresci. Virei adolescente. O primeiro amor? No Castelo, é claro.
A primeira caipirinha? Feita pelo Rodrigues, é claro.
E o primeiro baile?
Eu tinha 14 anos. Meus pais saíram, todos chiques e bem produzidos, de
terno, ele; de vestido de festa, ela. Iam para o baile de gala do
aniversário do clube. Implorei para me levarem junto. Necas.
Inflexíveis: “é só para maiores de 16 anos”.
Argumentei: Mas eu já sou grande, pareço ter 16, me levem...
Não teve jeito. Fiquei lá, triste, vendo TV.
De repente, visitas. Era o Sr. Camargo, com seus dois filhos, Carlinhos
e Maria do Carmo, nossos amigos da náutica do Castelo. Carlinhos, talvez
17. Minha amiga Carmo, a minha idade. O pai deles me disse:
-- Vá se arrumar. Você vai com a gente. Não concordo com essa história
dos seus pais deixarem você para trás.
Uau!!! Que felicidade! Escolhi o mais belo vestido de festa, me maquiei
e lá fui eu, para a surpresa dos meus pais, ao meu primeiro grande
baile, de adultos, no Clube de Campo do Castelo!
O passar dos anos, então, passou a ser marcado pelo calendário de festas
do Castelo. Réveillon. Pré-Carnavalesco. Carnaval. Aleluia. Festas
Juninas, com quermesse e fogueira de verdade. Na primavera, Baile do
Hawaii. Em outubro, festa da cerveja. Em novembro, Baile das
Debutantes... O nosso, onde “debutei”, foi o primeiro deles.
Os muitos amigos que frequentavam a nossa casa – uma espécie de
“clubinho” dos adolescentes dos anos 1960 – também iam sempre ao
Castelo. Aprenderam a esquiar. Frequentavam as festas. Almoços enormes
aos domingos, no salão, com o Rodrigues servindo a garotada. Festa
eterna.
Éramos os jovens que iriam mudar o mundo. “Faça amor, não faça a
guerra”, make love, not war. Não confie em ninguém com mais de 30 anos.
As cordas dos violões cantavam o amor, o sorriso, a flor, nos versos
bossanovenses de Vinicius e Tom.
Havia uma enorme efervescência cultural na juventude dos anos 1960. No
Brasil e no mundo. Era tempo de grandes discussões, de grandes
pensadores, de inesquecíveis poetas. Tempo dos Beatles. McLuhan previa
que todos teriam, no planeta, seus 15 minutos de fama, muito, muito
antes da Internet e do Facebook.
Simone de Beauvoir e Sartre. Roberto Carlos e Caetano Veloso. As cabeças
ferviam, muitas vezes antagônicas. Era a geração que procurava caminhos,
que ia à lua e que não queria que o mundo acabasse sob a explosão de uma
grande bomba atômica.
Tudo isso rolava lá, entre amassos, encontros e desencontros, na praia,
na torre, no bosque e nos salões do Castelo.
As árvores nos observavam. E aplaudiam.
Uma árvore que se chama
Ludmila
Nos seus últimos meses de vida,
minha mãe morou numa casa de velhos, em Moema. Era a casa que menos se
parecia com um depósito de velhos. Ficava bem pertinho da Rede Mulher de
Televisão, onde eu tinha meu programa diário e ao vivo.
Todos os dias eu ia vê-la. Ela
tocava piano no caramanchão e depois nos sentávamos a uma mesa de
jardim, branca, que ficava sob uma linda árvore florífera.
Era o ano de 2006 e, em junho de
2007, aos 95 anos de idade, minha mãe morreria.
Mas, sob aquela árvore, tomamos
muita cerveja, rimos bastante e comemos batatas noisete quentinhas, que
eu preparava no forno da cozinha da TV, para a delícia das cozinheiras:
uma apresentadora no fogão!
Um dia, perguntei à Graça, a dona
da casa, se a árvore, cuja sombra nos abrigava, perfumando o ar, tinha
nome. Não tinha. Eu disse:
-- Peço sua licença então para
batizá-la como Ludmila.
Até hoje, dez anos depois, a árvore
é conhecida por esse nome. Foi uma homenagem, com três décadas de
atraso, a uma pessoa muito querida para mim.
Ludmila foi a minha grande amiga no
Castelo, nos anos 1960. Mais velha do que eu, que tinha 15, talvez
tivesse ela 19 ou, no máximo, 20 anos. Mas, para mim, naquela idade, era
uma enorme diferença e eu a tinha por velha e sábia. Ela sempre me
dizia:
-- Bel, peça pro seu pai te
emancipar, faça exames de madureza e vá para a Universidade. Você já
deveria estar lá. Está mais que pronta para isso.
Ela me apresentou a Herman Hesse,
algo realmente inesquecível.
Seus pais haviam escapado da
Tchecoslováquia, então sob a bota da União Soviética.
Do alto da nossa extrema juventude,
filosofávamos, ela e eu.
Tínhamos a fórmula para salvar o
mundo.
Não sei como ela saiu da minha
vida. Lembro-me vagamente de, mesmo depois de deixar o Castelo, termos
nos encontrado várias vezes e, mais vagamente ainda, creio que ela tenha
ido estudar no Rio, ou nos Estados Unidos, não sei.
O fato é que, como é tão comum na
vida, nossos caminhos se distanciaram. E não consigo mais me lembrar
qual era a fórmula para salvar o mundo.
1.9 - Minutos
Eternos
Às vezes vivemos momentos de um súbito
encanto, momentos que sugerem aventura, amorosa ou sexual. Mas que nunca
se concretizarão porque os impedimentos sociais são muitos.
Porém, na memória, continuam esses momentos
nos encantando quando, sem motivo aparente, nos lembramos deles.
Talvez se impedimentos não existissem e os
momentos se tornassem mais que momentos, a lembrança se perdesse entre
tantas outras semelhantes e, banalizada, perdesse também o encanto.
Esse momento, que encontrei em meus antigos
diários, aconteceu quando eu tinha 16 anos. O personagem principal já
deve ter partido dessa vida...
Segunda feira, 02 de outubro de 1978
escrevendo sobre
ALGUM DIA EM 1967
Lembrei, para Beth, ontem à noite, uma
história deliciosa.
Eu teria uns 16 anos. Estávamos na represa
numa tarde de verão. Dois amigos, o pai deles (que era um coroa lindo, de
arrepiar os cabelos) e eu, numa craker box de fundo v. Uma lancha
muito potente mas com um casco horrendo. Lugar, mal e mal, para duas
pessoas e os esquis.
Os dois meninos, meus amigos, treinando na
pista, o coroa e eu na lancha.
De repente, uma tempestade de verão com um
noroeste de fazer a represa parecer oceano, ondas mil. Vento e chuva.
Seria impossível voltar ao clube com quatro pessoas dentro do barco.
Ninguém, por mais equilibrista que fosse, conseguiria, em tais
circunstâncias, manter-se em cima do deck. A única solução seria
voltarmos assim: dois dentro do barco e dois esquiando.
Éramos todos bons de esqui. Ninguém morreria
por esquiar no meio das marolas. Mas os meninos estavam cansados,
então... Então fomos para o clube, debaixo da tempestade, assim: os dois
meninos na lancha e o coroa lindíssimo e eu esquiando.
Quer dizer; o coroa e eu, tentando nos manter
sobre o esqui, mal podendo abrir os olhos, a 20 milhas por hora, os
terminais das cordas unidos, a mão esquerda dele na minha mão direita a
água machucando os rostos e risadas, meu Deus, risadas...
1.10 - Um Fim
Em 1970, meu pai se desentendeu com
a diretoria do Castelo.
Uma grande casa de barcos – a nova náutica – seria erguida no canto
esquerdo da praia que cercava o clube. Mas lá, dizia meu pai, era o
primeiro lugar onde a água sumia, nos tempos de seca, quando a represa
baixava e, às vezes, deixava ver os velhos “tocos” das antigas árvores
que lá estavam, antes do vale ser inundado, em 1908, para a construção
da Guarapiranga.
Não foi apenas isso. A chegada da inflação galopante, a proibição das
importações pelo governo da Ditadura militar – que arrochava cada dia
mais as liberdades –
Tudo isso fazia com que a nossa família passasse por dificuldades,
afinal, o laboratório de cinema do meu pai, vivia basicamente de matéria
prima importada.
Ele engoliu o voto vencido que foi, na construção da nova casa de
barcos.
Mas um dia, quando o guincho, já na nova rampa da nova casa de barcos,
puxava a carreta da nossa lancha para fora d’água, nós dois dentro do
barco, ele me disse:
-- Minha filha, pegue tudo o que é seu aqui no barco porque eu acabo de
vende-lo.
|


















.jpg)


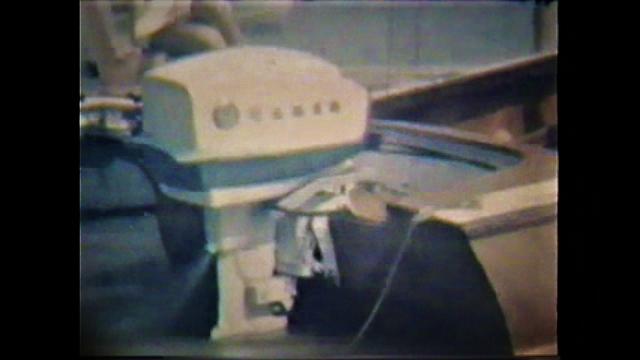






















 *
*
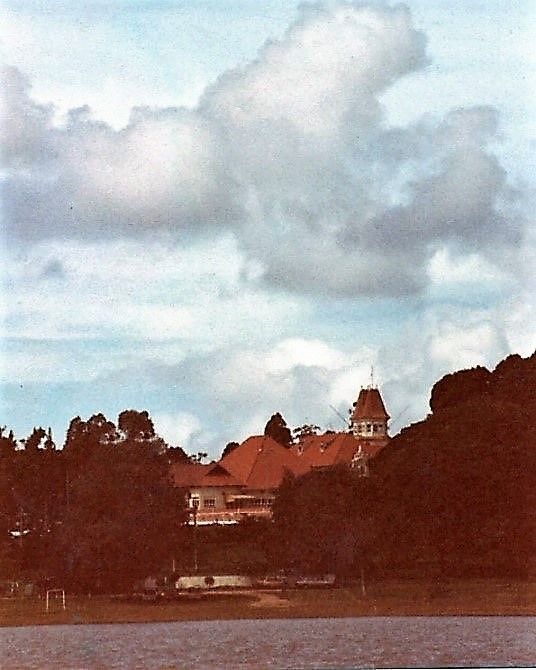












 Douglas,
um touro de forte. Self made man, halterofilista e um tremendo
esquiador. Uma das lembranças mais bacanas que tenho dele são os seus
olhos brilhando, numa noite de festa na sede do Castelo, feliz da vida
porque sua filha entrara na escola de Medicina.
Douglas,
um touro de forte. Self made man, halterofilista e um tremendo
esquiador. Uma das lembranças mais bacanas que tenho dele são os seus
olhos brilhando, numa noite de festa na sede do Castelo, feliz da vida
porque sua filha entrara na escola de Medicina. 



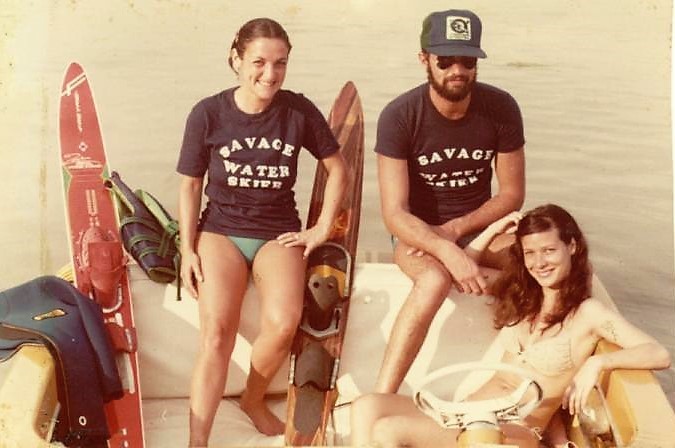


 Eu
diria que estávamos navegando sob as estrelas, mas, realmente, isso
seria abusar da poesia. A noite era fria demais (Meu Deus, valei-me!
Frio, em Janeiro... isso é São Paulo!) e o céu estava encoberto, as
estrelas, escondidas.
Eu
diria que estávamos navegando sob as estrelas, mas, realmente, isso
seria abusar da poesia. A noite era fria demais (Meu Deus, valei-me!
Frio, em Janeiro... isso é São Paulo!) e o céu estava encoberto, as
estrelas, escondidas.